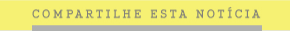
Estudar a carreira de grupos com mais de 20 anos de estrada é sempre útil para entender questões importantes sobre o mercado da música, e como essas questões afetam o trabalho dos artistas durante um grande espaço de tempo. No caso do Pearl Jam, a jornada do já veterano grupo de Seattle é um relato – hoje, único – sobre o desenrolar de uma cultura que mudou drasticamente de 1991 para cá. As gerações que viveram os anos 90 testemunharam o canto do cisne do hair metal (personificado pela ascensão e queda meteórica do Guns N’Roses) e do pop oitentista (por meio do apodrecimento já visível do mito de Michael Jackson), atropelados pela ebulição tardia de tradições orgânicas do punk e do hard rock, que vinham sendo gestadas nos EUA desde o final dos anos 70 e deram origem ao rock indie/college e ao seu irmão mais pesado e desajeitado, conhecido pelo nome de grunge. É curioso, aliás, notar como o termo passou de algo completamente infame à época – porque imposto verticalmente, por uma indústria sedenta em se apoderar de uma estupenda fonte de lucro – a algo de uso corrente e relativamente pacífico hoje em dia. O filme de Crowe passa obrigatoriamente por essa rixa com a indústria, presente em toda a carreira do Pearl Jam a partir do estouro da banda, em momentos como uma entrevista da MTV com Stone Gossard em que o entrevistador pergunta “O que define o grunge para você?” e ouve como resposta um seco “Nós nem pronunciamos essa palavra”.
Como outras ondas, o grunge também se dissipou – não sem antes dar origens a párias dignos de experimentos de um Dr Moreau –, perdendo espaço no mainstream mundial para o britpop e a cultura rave na segunda metade da década, por sua vez desbancados pelo revivalismo garage, o rap, o emo e o pop à Britney Spears nos 00. Sobretudo, todos esses movimentos foram alterados para sempre pela ascensão do Napster e da cultura digital plena, revolução ainda mais profunda do que a da década anterior. Olhando do ponto em que estamos hoje, é como se tivéssemos vivido 50 anos em 20, e o documentário de Cameron Crowe explora essa sensação por meio de um perfil do grupo, ainda que nem sempre de forma intencional.
“Havia um sentimento grande de inferioridade.”
O filme começa no final dos anos 80, quando a cena de Seattle ainda era insignificante e isolada do resto dos EUA. Imagens de arquivo inéditas mostram figuras como Chris Cornell e Layne Staley em cenas prosaicas de uma vida roqueira – jogando basquete, numa roda de cabeludos na fila de um show do The Cult ou fazendo porra nenhuma. “Havia um sentimento muito grande de inferioridade em relação a outras cenas”, recorda Cornell. “Tudo que vinha de Athens, Chicago, Nova York ou Los Angeles parecia sempre melhor. Mas mesmo assim havia uma vontade de perseverar.” O grande motor desse impulso era Andy Wood, bufante e andrógino vocalista do Mother Love Bone, de onde saíram Stone Gossard e Jeff Ament para formar o PJ. O carisma e a capacidade conciliadora de Wood, morto por overdose em 1990, deram o tom em um núcleo de bandas mais propensas a um sentimento comunitário do que de competição mútua (Cornell lembra Johnny Ramone: “em Nova York não é assim, lá todas as bandas querem se matar”). Esse misto de comunhão pós-hippie, provincianismo e ambição de fazer carreira na música (algo que já ganhava contornos de controvérsia em uma cena diretamente derivada do DIY punk) encontrou imagem e semelhança em Eddie Vedder.
Daí para a frente, Crowe narra a trajetória dos cinco (além dos três, Mike McCready e o vaivém de bateristas que passaram pelo grupo, até o posto se estabilizar em Matt Cameron) do circuito de clubes independentes pelos EUA e Europa até a condição de poster-boys a contragosto da Geração X. Como no caso do Nirvana, a velocidade vertiginosa com que tudo aconteceu trouxe o sabor amargo de perda de controle (e da inocência) sobre a própria imagem. Um dos arquivos mais emblemáticos dessa fase, divulgado pela primeira vez, é uma filmagem da festa de lançamento do filme Singles – Vida de Solteiro, que se tornou um dos símbolos do comercialismo ilimitado em torno do grunge (dirigido, por sinal, pelo próprio Crowe). Revoltados com o circo armado para o evento, os membros da banda, que participavam da trilha sonora e faziam uma ponta no filme, encheram a cara e promoveram um espetáculo deprimente de auto-sabotagem. “A partir dali, aprendemos que tínhamos que dizer não a certas coisas”, lembra, com um sorriso, um Gossard já sereno pela experiência dos anos. Momentos como esses aumentam uma sensação que fica mais forte com os anos: a de que o grunge, do ponto de vista da indústria de massa, foi um dos primeiros experimentos em grande escala para o que se tornaria a cultura reality. Um dos atrativos na comercialização do movimento foi a novidade vouyerista de transformar a vida de caras comuns em desejo de consumo, das camisas xadrez à cultura das drogas (não por coincidência, outro símbolo dos anos 90 é a série The Real Life/Na Real da MTV, que pretendia o mesmo).
Obviamente, nem todos vão buscar no filme esse senso de perspectiva: o que a maioria espera de PJ 20 é um filme celebratório, que traga de volta lembranças da adolescência e aproxime os fãs da intimidade dos membros da banda. Para seu séquito ultra-fiel de seguidores, o Pearl Jam exibe a generosidade que fez do quinteto um dos grupos mais amados do rock estadunidense, com uma pequisa ampla de imagens de arquivo desses 20 anos. O olhar romântico de Crowe em relação ao rock, já notório em filmes como Quase Famosos e o próprio Singles, ora adquire coloração condescendente, ora heroica demais, além de ignorar solenemente questões espinhosas como a demissão do baterista Dave Abbruzzese em 1994. Mas em geral o diretor consegue colocar em boa perspectiva os principais percalços na carreira do grupo na construção da própria independência. Toda a batalha à Fugazi por ingressos mais baratos contra a Ticketmaster está muito bem documentada, com cenas hilárias dos julgamentos. Estão lá também as críticas abertas de Kurt Cobain, além da mitológica cena em que ele dança abraçado com Vedder e de uma entrevista em que o “rival” do Nirvana diz achá-lo “um cara muito legal”, com quem conversava bastante. Também se discute algumas crises internas do grupo, com destaque para a tragédia ocorrida no festival de Roskilde em 2000, em que 9 pessoas morreram pisoteadas. Ou a vaia em um show no Texas, quando a banda realizou um ato político carregado de sarcasmo contra George W Bush. De ausências, a mais importante é a turnê que Vedder fez com Mike Watt e Dave Grohl em 95, em apoio ao disco de estreia solo do ex-Minutemen, Ball-Hog or Tugboat?, um marco da fase em que o vocalista começou a radicalizar suas posições anti-indústria, que quase culminaram na separação da banda.
Se o Pearl Jam há muito não produz discos dignos de nota – a carreira solo com ares folk de Vedder chama bem mais atenção –, ao menos deu conta de fugir do lugar-comum de outras bandas da época, que sobrevivem do revivalismo puro e simples. PJ 20, assim, é um retrato honesto e abrangente sobre um grupo que saiu da barriga da besta, sobreviveu aos solavancos da indústria e se reinventou como um ato independente, capaz de mobilizar politicamente (e tocar musicalmente) uma grande quantidade de pessoas que normalmente seriam excluídas da esquerda mais elitizada do circuito punk/indie. Ao fim e ao cabo, uma boa história para se contar aos netos.