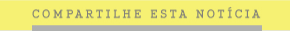
Fotos por Fernando Martins Ferreira
O compositor estadunidense Glenn Branca vive com um dilema: a impossibilidade de concretizar no mundo real os sons que ouve em sua cabeça. Até aí, nada de novo - afinal, esse é um problema que deve afligir 99% dos músicos do planeta. A diferença é que Glenn Branca faz parte do seletíssimo grupo de artistas que, ao tentar realizar o irrealizável, trazem inovações que afetam a música de seu tempo.
No caso de Branca, tudo começou no fim dos anos 1970, quando se empenhou na tarefa de arrancar o rock das raízes blueseiras à frente dos grupos Theoretical Girls e The Static. A partir de 1979, criando peças instrumentais e sinfonias para guitarra elétrica, explorou inúmeras possibilidades até então ignoradas do instrumento, além de ter sido uma espécie de mentor para artistas como Thurston Moore, Lee Ranaldo, Page Hamilton e Michael Gira, que passaram por sua orquestra de guitarras antes de seguirem carreira nas bandas que os consagraram. Mas isso não era o bastante para Branca, que, na busca por novos sons, passou a escrever para orquestra sinfônica e a criar seus próprios instrumentos.
A inquietação do compositor sessentão não para por aí. Ele acredita que sua música tem um propósito político, e seu discurso mistura traços de misantropia aguerrida com uma crença sincera na possibilidade de mudança, em frases como “Nunca tive apreço pelo grande público. Foram eles que arruinaram nosso país e o resto do mundo, porque supostamente elegemos nossos governantes. Sempre foi muito feio e corrupto. É algo que me deixa louco de raiva. Toda minha música é reflexo da minha irritação” ou “Não me vejo como um revolucionário. É apenas o fato de que, se vou estar neste lugar nesta época, seria uma perda de tempo não fazer nada em relação ao que vejo aqui. Estou em um lugar horrível, horrível, horrível, e acho importante que mais gente entenda que não precisa ser assim. A realidade pode ser o que quisermos. Fomos nós que a inventamos”.
Branca está no Brasil para tocar no SESC Belenzinho, dentro da programação da Mostra SESC de Artes – as fotos que ilustram essa entrevista são da apresentação do compositor e seu ensemble nesta terça (24), e ele volta a reger o grupo nesta quarta (25). Na sua primeira passagem pelo hemisfério sul do globo, Glenn Branca deu à Soma um panorama da sua carreira, falou sobre fenômenos acústicos, nerdices guitarrísticas, minimalismo e sua obsessão pela série harmônica, além de soltar um desabafo um tanto exaltado.
No documentário Kill Your Idols, ficou parecendo que você, do nada, decidiu montar uma banda de rock enquanto pintava o loft do Jeff Lohns.
Foi assim mesmo. Fui para NY para fazer o Bastard Theater, que era um grupo de teatro que eu tinha com meu amigo John Rehberger em Boston. Eu estava fazendo teatro desde os 11 anos, mas também tocava guitarra para me divertir. Comecei a me interessar por dirigir peças, mas eu não achava muitas peças que me interessassem. Eu tinha muitas ideias, mas nenhuma peça onde colocá-las, então comecei a escrever minhas próprias peças. Ao mesmo tempo, colecionava discos e gostava de música de todo tipo: asiática, do oriente médio, música antiga europeia, jazz. E eu amava rock, era meu tipo de música favorito. O Jeff também era interessado em teatro, além de ser um artista conceitual e um músico que estudou piano. Ele queria ser um pianista de concerto, mas quebrou o dedão – pelo menos é essa a história que ele conta. Começamos a ir a peças juntos ou nos trombávamos na cena de teatro underground, que era ótima em meados dos anos 70.
Isso foi em Nova York?
Sim. Teatro era minha praia, mas eu comecei a incorporar música no teatro. O Bastard Theater não era nada convencional. Era mais próximo da arte performática: não havia personagens ou trama, o foco era na mis-en-scène, na iluminação, nos figurinos, nos movimentos, no som, na música. Eu não conseguia conter meu desejo de ter uma banda de rock. Espalhei uns cartazes procurando músicos para formar uma banda de rock. E nem falei nada com o Jeff [na época, eles estavam dividindo um loft que iria abrigar tanto o No Theater de Lohns quanto o Bastard Theater de Branca], porque achei que ele não ia ser interessar, ele sempre falava que odiava rock. Mas quando tocava piano, ele tocava algo que soava como um cruzamento de Beethoven com Cecil Taylor com Jerry Lee Lewis. Ele viu meu pôster e adorou, mas não sabia que era eu, porque não coloquei meu nome, só o telefone. Ele ligou e descobriu que era eu (risos). Então logo começamos a banda [Theoretical Girls]. Ele era amigo de um artista performático que é um dos artistas visuais mais importantes do século 20, chamado Dan Graham. Dan adorava rock, sua banda favorita na época era The Fall, e ele disse: “Tenho uma performance no Franklin Furnace em três semanas. Por que vocês não tocam depois da performance?”. Em três semanas, juntamos todos os instrumentos, pegamos um baterista emprestado de outra banda, ensaiamos e tocamos. E eles adoraram. A plateia ficou louca. O mundo da arte tinha sua própria banda de rock. A cena de arte performática era muito empolgante naquela época em NY. Muitos artistas jovens se mudavam para lá. As pessoas queriam algo novo.
Essa foi a primeira geração que cresceu ouvindo rock. Eu lembro de ouvir “Hound Dog”, do Elvis Presley, no rádio quando tinha 8 anos em 1956. Foi assim com todos nós. Ninguém sabia ou queria saber quem éramos, mas Dan estava lá e ele tinha construído uma reputação como artista conceitual nos anos 60. Ele era meio que o líder. E ele queria dar uma força para nossa banda, porque ele adorou. Na primeira apresentação, ele estava na primeira fila com um sorriso gigante na cara. A banda decolou. Tocamos em lofts, em espaços de arte, no The Kitchen. Na mesma época, havia uma outra cena rolando, da qual não sabíamos muita coisa, que era a cena do East Village. Estávamos no Soho, no West Side – naquela época isso fazia diferença. Eles tinham ideias parecidas sobre mudar o rock, sobre tirar o rock do formato blues.
Por que decidiu deixar para trás as bandas de rock e começar a compor para pequenas orquestras?
Aconteceu organicamente. Quando parei de escrever canções e passei a compor peças instrumentais, ainda considerava aquilo rock. Eu sentia que a música tinha muito poder de afetar a mente das pessoas, mas eu não queria vender uma ideologia. Então comecei a compor músicas sem letra, mas usando guitarras elétricas. Em 1979, escrevi uma peça chamada Instrumental for Six Guitars. Aí comecei a compor peças mais longas, entre 8 e 12 minutos de duração. Elas se tornaram o álbum The Ascension e o EP Lesson Nº 1. Até hoje, são minhas peças mais conhecidas, principalmente porque eu continuava a trabalhar em um contexto de rock. E então veio a Symphony Nº 1, que tinha, além de guitarras, alguns teclados, instrumentos de sopro e um latão de óleo. Eu achei que iria ser crucificado por chamá-la de sinfonia. Quando as resenhas saíram, fiquei chocado: não só os críticos gostaram, mas o público também. O público cresceu tanto que, na última vez em que nos apresentamos, tivemos que colocar os músicos e os instrumentos bem no fundo. Era no Performance Garage. Foi um sucesso e comecei a me envolver muito com música, a ver a música como o meu teatro. Eu podia transferir para música as ideias que tinha para teatro. Após ganhar essa batalha, compus a Symphony Nº 2, que foi um sucesso ainda maior, e a Symphony Nº 3, que foi ainda maior. Era uma peça muito complicada, na qual usei um sistema de afinação baseado na série harmônica.
Aí descobri que, estranhamente, eu me interessava por matemática. Havia uma conexão literal entre a matemática e a vibração do som. Era algo que eu precisava explorar. Aí me interessei por física. Chegou um ponto que tive que decidir: vou me tornar um filósofo/matemático/físico ou vou ser um compositor, um artista? Escolhi a música. Minhas ideias eram tão importantes que eu queria que o mundo da música clássica prestasse atenção em mim, que visse que sou um compositor sério, independente de compor para guitarras ou elásticos ou violinos. Além disso, a orquestra (sinfônica) me interessa como ferramenta, já que há mais sons para trabalhar. Eu poderia fazer acordes mais ricos e complexos. Agora, meus interesses continuam a se expandir, já que estou nesse jogo há quase 40 anos. Há várias peças que quero escrever e todas são para tipos diferentes de orquestra. Uma delas é para uma orquestra pequena, de 11 pessoas, mas eu preciso construir todos os instrumentos. Quero ouvir novos sons.
Uma coisa que as pessoas não entendem sobre a minha música é que eu sempre fui um primitivista. Nunca me interessei pelo sintetizador, por exemplo. Quando ele foi lançado nos anos 50, todos pensaram “Essa é transformação que estávamos esperando. A música vai mudar de um jeito inimaginável, vamos ouvir a música do futuro”. Bom, isso não aconteceu. Eu poderia passar por todas as mudanças tecnológicas que aconteceram desde então, e foram muitas, até os programas de computador que as pessoas usam agora. Mas onde está a música? Não acho que botar uma batida super forte – claro que estou falando de techno ou de rave ou de qualquer merda que você quiser chamar – e se masturbar sobre isso seja música. É um ótimo divertimento, assim como televisão ou gibis. Quero levar a música para um outro patamar. Não quero fazer algo que deixe moleques de 16 anos excitados. Quero escrever música para a mente e para o corpo.
Você falou da séria harmônica, mas ao longo da sua carreira, você também vem explorando clusters, fenômenos acústicos, microtons. Pode dar um resumo de como se interessou por essas coisas?
Os fenômenos acústicos aconteceram por si próprios. A última seção da peça Instrumental for Six Guitars criava sons que eu não havia escrito, “sons fantasma”, como muitas pessoas chamam. Você começa a ouvir vozes, cordas, sopros, pessoas conversando, gritando, corais cantando. Eu fiquei chocado. Quando ouvi no primeiro ensaio, parei no meio do ensaio e fiquei muito comovido de ver que todo o trabalho que eu tive tinha sido bem sucedido. Eu tinha encontrado minha música. Fizemos a passagem de som no clube, Max’s Kansas City, e as únicas pessoas que estavam lá eram o agente, dois técnicos de som e o atendente do bar. E todos eles vieram até mim com expressão de bebês recém-nascidos e disseram “O que foi isso? Como você fez isso?”. Aí tocamos a peça à noite, o lugar estava abarrotado porque era o Eastern Festival, estávamos dividindo a noite com The Contortions e Model Citizen. Naquela época, não havia camarim atrás do palco, você tinha que passar pelo público e aí subir as escadas para o camarim. Quando passamos, as pessoas não nos deixavam sair, nos agarravam, agarravam nossas roupas.
Mas hoje, quando você escreve uma peça, consegue imaginar os fenômenos acústicos que vão acontecer?
Depende. Na peça que você vai ouvir no show [Ascension: The Sequel], eu pego coisas que usei no passado e uso de um jeito diferente. Em outros casos, faço algo completamente novo, então não sei como vai soar. Mas sim, eu tenho técnicas para capturar essa qualidade específica.
Você pode falar um pouco sobre os instrumentos que criou, como a mallet guitar e a harmonic guitar?
Harmonic guitar… agora você está entrando em um território complicado. Descobri acidentalmente. Coloquei uma barra de slide sob as cordas, no meio. Palhetei deste lado [direito] da barra, o problema é que os captadores estão aqui [do lado esquerdo]. Então eles não pegavam a nota fundamental, mas as vibrações simpáticas, o conjunto de harmônicos. A série harmônica é uma representação ideal do som musical. Na verdade, o sistema ocidental é baseado nos seis primeiros harmônicos. Não há nada de novo nisso, os gregos conheciam a série harmônica há mais de 2 mil anos. Mas eles pararam em seis, enquanto a série é infinita, ou ao menos, se considerarmos o mundo físico, vai até o limite da audição, o que dá 256 harmônicos. Passei alguns anos da minha vida [estudando a série harmônica], não vou dizer anos perdidos, mas quando chegou no fim, eu estava fazendo desenhos, porque eu queria vê-la, além de ouvi-la. Um dia, eu estava olhando para um desenho enorme que tinha feito durante semanas, e disse: “Estou olhando diretamente para o cu de deus”. E aí foi o fim. Foi quando decidi: “pare de desenhar, de fazer cálculos, comece a compor música”.
Vi uma foto sua segurando um instrumento que parece uma guitarra de duas cabeças.
É a harmonics guitar. Há vários jeitos de fazê-la.
Mas aí há captadores dos dois lados?
Sim. Nesse caso, dá para misturar o que soa como guitarra country ou havaiana com os harmônicos saindo do outro lado.
Você disse em uma entrevista que o potencial da guitarra continua quase intocado. Quais caminhos ainda há para explorar?
Toneladas.
Me diga um ou dois.
A questão é: por que tem de ser eu? Tenho outras ideias sobre coisas que quero fazer. Na verdade, quero escrever romances.
Ok, mas você não pode me dar um exemplo de algo que pode ser feito na guitarra, mas que ninguém ainda fez?
Eu teria feito. (risos) Tenho tantas ideias… Quando ligo meu cérebro, ele não para e eu fico louco. Tenho muitas ideias, todas ao mesmo tempo, e não consigo escrever tão rápido. Então tenho que desligá-lo. Às vezes tenho até que beber (mostrando o copo de uísque). Sim, tenho toneladas de ideias e não posso realizá-las. É difícil compor, pelo menos para mim. Tenho que fazer minhas escolhas com cautela. Elas têm que ser baseadas em problemas do mundo real. Muito disso tem a ver com construir instrumentos. Nas sinfonias Nº 3, 4 e 5 – que foram minhas peças para série harmônica – todos os instrumentos foram construídos ou projetados ou adaptados por mim. Por exemplo, tiramos os trastes dos baixos e os colocamos em lugares diferentes, medindo com muito cuidado. Todas essas guitarras estão encostadas há 25 anos. Eu não tenho dinheiro, o que posso fazer? Essa é a verdade: é muito caro. E toma muito tempo e energia. Perdi cada centavo em que pude colocar as mãos através de qualquer método disponível, alguns deles nem posso falar. (nervoso) Fiz tudo o que eu poderia fazer e o mundo não me quer, certo? (bem nervoso) Eu poderia ter feito muito mais e teria feito muito mais. As pessoas não querem e isso é tudo o que vou falar sobre as pessoas. Se elas querem me ver morrer e perder todo um mundo de música, problema delas. Porque agora, depois de todos esses anos, percebi que ninguém além de mim vai fazer isso. E se as pessoas vão esperar eu ter 159 anos, adivinha só? Vou estar morto, porra! Elas podem fuçar meus cadernos durante um século e não vão conseguir decifrá-los. Meus cadernos são como códigos, só eu entendo. E não faço de propósito, é por causa do jeito como escrevo, tenho minha própria linguagem, as pessoas não entendem. E elas não estão nem aí. Quem liga para música? Eu acho que música é importante. Desculpe, não queria entrar em uma provocação… mas eu me importo. E as plateias são maravilhosas. É tudo o que eu tenho a dizer. Tem mais alguma coisa que você queira saber?
Bom, tenho mais algumas perguntas…
(mais calmo) Tudo bem, podemos continuar.
Você se considera parte da escola minimalista?
Sim. Phillip Glass sempre foi muito importante para mim. Não apenas pela música, mas porque ele abriu a porta para nós. Em NY, tínhamos a cena de downtown e Phil era essa cena. Várias pessoas diriam John Cage, mas foda-se o John Cage. Gosto do que ele fazia, ele era um artista conceitual, mas não era um compositor. E você tem que perceber que eu não desgosto do John Cage, não importa o que ele disse sobre mim [em 1982, após ouvir a peça Indeterminate Activities of Resultant Masses, de Branca, Cage fez uma dura e longa crítica, na qual disse que se aquela música fosse algo político, se assemelharia ao fascismo]. Mas Phil Glass derrubou as barreiras entre música popular e clássica, para colocar nos termos mais simples possíveis. Para mim, ele fez isso por mim. Talvez eu possa fazer por outra pessoa. Mas não sei por que me importo com essas coisas, nem gosto das pessoas. Exceto a Reggie [esposa de Branca, que estava sentada na cama enquanto a entrevista rolava].
Uma coisa que eu realmente amo na sua música é a maneira como ela se desenvolve. Às vezes, você pensa que nada está mudando mais aí de repente percebe que a música está completamente diferente do que era no começo. É meio desorientador.
Sim, é exatamente isso que quero que aconteça. A desorientação é importante porque quero que as pessoas ouçam algo que nunca ouviram antes. Quero que as pessoas saibam que há coisas que nunca viram na TV, leram em um livro, ou que aprenderam com os pais ou professores. Quero que ouçam algo que elas mesmas descobriram. E o jeito de fazer isso é desorientando a mente. Quando você ouve música, você relaciona com o que já ouviu no passado. É assim que nossa mente funciona. Mas e se você não puder relacionar a algo que ouviu no passado? Você não sabe o que está ouvindo, então tem que inventar algo, criar alguma coisa na cabeça para explicar aquilo. Só quero que as pessoas pensem. Se elas puderem pensar, em vez de simplesmente acreditar em toda merda que os outros querem que elas acreditem. Mas há varias coisas. Quero que as pessoas alucinem, que tenham uma experiência que nunca tiveram antes. Quero que aconteça algo que elas vão lembrar para o resto das vidas. Na verdade, quero o mundo todo em uma peça. Não posso fazer isso, ninguém pode fazer isso, mas é o que quero.
Por que não há espaço para o silêncio na sua música?
Porque isso dá às pessoas a oportunidade de sacar o que está acontecendo, e eu quero que elas fiquem confusas. Crio campos de som. E eles são contínuos, da mesma forma que isto [vida real] não para. Você não entra e sai de cena. Quanto mais complicada uma sequência de acordes, mais tempo o cérebro leva para processar. Então às vezes eles têm que ser sustentados por períodos mais longos do que as pessoas estão acostumadas. Para atingir algumas técnicas que discutimos antes [fenômenos acústicos], é preciso que a música seja contínua, ou esses truques não vão funcionar. E são truques, não sou um feiticeiro.
Em uma entrevista, você disse que acha difícil escutar sua própria música.
Sou extremamente autocrítico e é muito doloroso quando (o que ouço) não é o que queria originalmente. Sinto que falhei. Se algum dia eu for bem sucedido no que quero atingir, possivelmente não vou mais compor. Meus sonhos são muito maiores do que consigo tirar da minha cabeça e colocar em um pedaço de papel. E aí os músicos tem que tirar do pedaço de papel e transformar em sons. E aí um engenheiro de gravação tem que transformar os sons em algo que pode ser colocado em um aparelho de gravação digital. Aí o aparelho de gravação digital tem que ser tocado através de um iPod, através de fones de ouvido até chegar aos seus ouvidos. O quão longe isso está do meu cérebro? O que você escuta não é o que eu escutei quando concebi.
Sua música é aberta para interpretação, então provavelmente várias pessoas vão até você depois dos concertos dizer o que acharam. Quais foram as coisas mais loucas, ou as mais legais, que já ouviu?
Houve algumas bem ruins, como “Tive um ataque psicótico”, e algumas boas, como “Tive um orgasmo”. Digamos que já disseram de tudo entre essas duas. Taí a sua manchete.
--------
Saiba mais
glennbranca.com