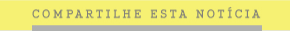
Sob uma parede sonora de efeitos e feedbacks, há uma melodia, uma voz, uma canção. O baixista gira a cabeça, espalhando seus longos cabelos dignos de um metaleiro old-school. Na bateria um barbudo de boné soca o kit com a proficiência de um John Bonham. O show do Health é uma experiência física – pelo menos no nível de agressão sonora – tanto quanto musical. Equilibrando-se entre o noise rock dos anos 00, melodias oitentistas e uma camuflada pequena dose de rock clássico, o quarteto de Los Angeles esteve no Brasil numa miniturnê em outubro de 2011, passando pelo SESC Pompeia em São Paulo e pelo festival No Ar Coquetel Molotov no Recife. Foi na capital pernambucana que a Soma conversou com o baixista John Famiglietti sobre remixes, baixos Rickenbacker e a importância do design para uma banda dos anos 00.
Vamos começar pela cena do The Smell (coletivo/ espaço de shows em Los Angeles). O Fugazi fazia shows por cinco dólares nos anos 80, e o Smell também tem essa política, mantendo inclusive o mesmo preço. Como fazer isso funcionar economicamente, já que cinco dólares hoje valem muito menos?
É algo muito estúpido, é uma loucura. Quando a gente começou, há uns anos já, o Smell e outros espaços da mesma cena todos faziam shows por cinco dólares. Tudo está muito mais caro, é uma puta diferença daquela época para agora. E você tinha quatro bandas tocando num show por cinco dólares, então basicamente ninguém recebia nada.
Como vocês entraram nessa cena?
A gente teve que se enfiar. Não conhecíamos ninguém, tínhamos um background diferente. Era difícil conseguir um show. O Smell não marcava shows, seu show tinha que ser marcado por uma banda que já havia tocado lá. Se você está dentro, já é, mas você tem que fazer sua parte para participar disso.
Vocês escolheram um nome que é bem difícil de encontrar no Google – talvez o Girls seja uma das poucas bandas tão difíceis de googlar quanto a de vocês. Vocês pensaram nisso quando escolheram o nome?
Quando procuramos por nós mesmos no Google pela primeira vez, pensamos “merda” (risos). É muito difícil escolher um nome, ainda mais hoje em dia, com tantas bandas. A gente queria que fosse uma palavra só, algo futurista, mas também uma palavra comum – como Television, Magazine. E aí chegamos em Health. Hoje estamos em primeiro lugar nas buscas por “health band” no Google, mas foi um longo caminho.
Apesar do noise e da eletrônica, dá para perceber elementos de rock mais clássico no som de vocês. Você toca um baixo Rickenbacker, o som da bateria do Ben lembra John Bonham. Em que medida vocês assumem essa influência?
Nós temos em comum o fato de que em algum momento na vida todos ouvimos muito rock clássico. Eu e o Jake viemos do punk, e é claro que temos várias influências de eletrônica. Nós não tocamos exatamente rock, mas temos essas influências do rock clássico, essa sensibilidade. Eu uso um Rickenbacker porque é um baixo fodão, é o baixo que o Chris Squire (do Yes) usa, que é o meu baixista favorito. Mesmo que eu não toque como ele, que o nosso som não tenha nada a ver com Yes, eu quero um Rickenbacker. Mas quaisquer que sejam essas influências, nós tentamos fazer algo novo, único.
“Não queríamos ser rotulados como ‘aqueles caras experimentais’. Além disso, tinha um monte de bandas pop de merda com uns remixes incríveis. Por que nós não podíamos ter remixes incríveis? Aí os playboys poderiam ouvir a gente em vez de um artista pop qualquer.”
Além das bases eletrônicas e de todo o processamento, vendo o show de vocês eu pensei muito no My Bloody Valentine. Vocês realmente usam a voz como mais um instrumento, em vez de ser algo que lidera a música. Foi um esforço consciente usar a voz assim?
Tem a ver com a época em que começamos, na segunda metade dos 00. A música das bandas era muito louca, os vocais eram loucos. Cada banda fazia de um jeito diferente, é claro. E nós queríamos fazer algo extremo, que tivesse certos aspectos, mas que também tivesse algum tipo de emoção. Os vocais eram mais limpos, o Jake tem um estilo particular, e nós fomos trabalhando com o tempo, levando ele para outros lugares, avançando.
Quando eu ouvi os discos de vocês, pensei “esses caras devem se foder para tocar isso ao vivo”. Mas os shows são diferentes dos álbuns, e ainda assim é reconhecível. Como vocês lidam com esses processamentos e acasos do noise?
É bem difícil controlar isso tudo, temos que ensaiar bastante para tocar nossas músicas do jeito certo, como uma banda, gastamos bastante tempo fazendo isso. No começo era um porre, porque usamos muito processamento analógico e aparelhos modificados por nós mesmos.
É interessante, porque eu entrevistei o Vincent Moon ano passado (entrevista publicada na Soma 22)...
Ele é brilhante, um artista por quem eu tenho um respeito enorme. Você dá uma câmera DV para ele e ele te dá uma obra-prima.
Exato! Bom, ele falou sobre as dificuldades para conseguir um bom primeiro take com as banda que grava e comentou sobre como as bandas estadunidenses são bem ensaiadas, sempre acertam no primeiro. Vocês parecem ensaiar muito também.
Acho que é mais fácil para os grupos dos EUA porque há muito espaço disponível. Nós alugamos um espaço que está disponível 24 horas por dia, todos os dias. O dono do estúdio é o Dave Mustaine (do Megadeth), o gerente é ex-membro do Megadeth, procure na Wikipédia (Chris Poland, que também tocou no Circle Jerks). Matar não é o único negócio dele (risos) (referência a Killing is My Business, álbum do Megadeth de 1985). Não é caro para uma banda de Los Angeles, existem muitos espaços. Em outros lugares é mais difícil, como em Nova York. E mesmo que você não tenha dinheiro, tem como arranjar uma garagem. Se você quiser ensaiar, você ensaia.
Vocês lançaram dois discos de remixes, um após cada álbum. Isso vai se tornar tradição?
Acho que sim, desde que valha a pena. Não vamos lançar qualquer coisa. Nós tivemos a chance de fazer dois, é muito foda. Mas só vamos lançar um terceiro se for bom. A atmosfera mudou também. Na época do nosso primeiro álbum havia uma explosão de remixes, todo mundo estava louco, em blogs, na internet. Mas as coisas mudaram, e os remixes não são mais tão importantes. Vamos ver, se funcionar, vai rolar.
Mas vocês produziram esses dois discos de remixes por que queriam mais gente ouvindo sua música ou por que queriam trabalhar com esses produtores?
Nós estávamos muito animados com a música eletrônica que estava sendo produzida na época, com a explosão da cultura dos blogs de música. Foi uma época muito empolgante. A gente queria fazer parte disso, e éramos essa banda estranha, barulhenta. Não queríamos ser rotulados como “aqueles caras experimentais”. Além disso, tinha um monte de bandas pop de merda com uns remixes incríveis. Por que nós não podíamos ter remixes incríveis? Aí os playboys poderiam ouvir a gente em vez de um artista pop qualquer. No final, fizemos isso e o resultado foi maravilhoso.
Foto por Caroline Bittencourt
Vocês escolheram os artistas que remixaram as músicas?
Escolhemos cada um deles com cuidado. “Esse cara é bom”, “esse trabalha com elementos que têm a ver com as nossas músicas”. Na maior parte das vezes funcionou muito bem. Os grandes nomes são mais complicados. Você gasta uma grana para ter um desses caras e eles fazem um remix de merda. Os artistas mais jovens têm essa fome, eles trabalham duro para fazer um lance legal.
Existe uma grande preocupação com o design das capas dos discos, das camisetas, de tudo que vocês lançam, uma coesão. São vocês mesmos que cuidam do design da banda?
Sou eu que faço tudo. No começo só tínhamos nós mesmos, e o design sempre foi muito importante. Pense nas bandas punk, todas elas tinham um trabalho incrível, como o Black Flag. E também piramos em Smiths, e todas as capas dos Smiths são uniformes, seguem o mesmo estilo.
O design de vocês é muito limpo, dá para sacar referências de livros técnicos dos anos 50 e 60, da Factory.
No início nós pensamos “ok, o nome da banda é ‘Saúde’, então precisamos pensar em coisas frias, científicas, futurísticas”. No underground, na época, todas as bandas noise, experimentais, bizarras, usavam colagens, o que eu acho incrível, a coisa mais legal do mundo, mas não queria que a gente copiasse, queria que nos destacássemos. Então decidimos pelo minimalismo, linhas retas, angulares, coisas muito gráficas, assim a arte das camisetas pareceria bastante com a arte do álbum. Quando começamos tudo era na base do faça-você-mesmo, tocando em porões com bandas de noise, punk. Foi uma época muito estranha e maravilhosa, os anos 00. Então precisávamos de algo monocromático, que fosse fácil de reproduzir num silk. Sempre achamos importante ter produtos legais pra vender, eu era obcecado por bandas, ia a shows e comprava camisetas – gostava daquelas que tinham uma estética uniforme, que você reconheceria facilmente. Sempre pirei nas coisas da Factory, mas a nossa maior influência foram os anos 60. Trabalhamos muito com o layout, com aquela organização, como nos álbuns da época. Se a gente visse um layout incrível, aproveitava e reinterpretava de uma maneira muito bizarra.
“No começo só tínhamos nós mesmos, e o design sempre foi muito importante. Pense nas bandas punk, todas elas tinham um trabalho incrível, como o Black Flag. Também piramos em Smiths, e todas as capas dos Smiths são uniformes, seguem o mesmo estilo.”
Você falou dos Smiths, e existe algo de Morrisey no show de vocês.
Os Smiths sempre estiveram presentes. O Jake (vocalista) e o Jupiter (guitarrista) são grandes fãs de Smiths. Nós temos muitas influências, e é bem abstrata a maneira como absorvemos conceitos. Às vezes estamos ouvindo rádio e alguém comenta, “pô, essa música tem umas ideias legais, vamos usar”. É sempre de uma maneira oblíqua, não tentamos soar exatamente como nossas influências.
Em um momento do show você estava “tocando” microfonias com o microfone. Fiquei pensando, “porra, eu queria ser o cara que toca microfonia numa banda”. Mas pareceu bem difícil.
Tem vários sons nossos que são criados apenas com microfonias. E é um puta pé no saco, porque tentamos criar canções. O Jake precisa cantar, e às vezes não estamos tocando em 440 hertz. Precisamos achar o tom, mas ao mesmo tempo tem que soar um pouco dissonante. Qualquer outra banda acharia essas preocupações estúpidas, mas é assim que somos. Qualquer detalhe pode fazer diferença, então é difícil.
Eu li uma entrevista em que vocês diziam considerara língua portuguesa um dos sons mais interessantes que existem. O que há de interessante nela?
Era o português de Portugal, que é um som muito louco para mim. Aqui no Brasil é mais suave, mas em Portugal parece mais com russo do que com espanhol, o que é muito bizarro, porque as palavras são muito parecidas, mas a pronúncia é completamente diferente. Em Los Angeles nós ouvimos muito espanhol e conhecemos várias palavras, mas em Portugal a pronúncia é completamente diferente. Aqui é menos alienígena para mim, parece um pouco mais com espanhol, mas ainda é estranho. É louco, porque é uma língua latina, e elas todas são parecidas, mas o português é tipo, “UAU!”, vários sons estranhos!
----------
Saiba mais