Flo Menezes . Vida musical POR Fernando Martins Ferreira
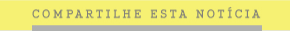
Se pensarmos sobre quais são os sentidos do corpo mais relevantes para nossas relações de afeto, em primeira análise, podemos dizer que todos. Mas, ao estabelecermos uma hierarquia de acontecimentos, a visão é geralmente mais importante a princípio, num momento em que tudo é incerteza, e só depois “ouvimos” (um pouco) os outros sentidos. Muito, e de maneira imperativa, dedica-se ao olhar, mesmo sem conseguir ver. O pesquisador e crítico musical Joachim-Ernst Berendt, em seu livro Nada Brahma, afirma que “as pessoas que sabem ouvir são mais receptivas, ao passo que as pessoas que olham quase sempre são mais agressivas”. O que aconteceria então se nos dedicássemos mais à escuta?
O professor e compositor de música erudita experimental brasileira Flo Menezes, 49, dedica sua vida à música, ao som e à filosofia, e procura a raiz dessas questões. Ficou anos fora do Brasil, estudou com Pierre Boulez, Luciano Berio e Karlheinz Stockhausen. Em 1994 fundou o Studio PANaroma, junto com a UNESP de São Paulo, para suas experimentações radicais de música eletroacústica. Criou o Concurso Internacional da Música Eletroacústica de São Paulo (Cimesp) e a Bienal Internacional de Música Eletroacústica (Bimesp), entre tantos outros projetos. Um criador que recoloca o papel do pensamento do som como uma reflexão acerca do sentido musical, um campo de ações da subjetividade, criadoras de sentido.
Para entender a música eletroacústica, é preciso vivenciar um concerto repleto de caixas acústicas. Mas podemos dizer que é uma música criada em estúdio a partir da manipulação dos sons de instrumentos musicais ou eletrônicos, e sua difusão é feita por uma orquestra de alto-falantes, que privilegiam a espacialidade e a espectralidade dos sons em uma sala de concerto. Como diz Flo em um de seus livros, Música Maximalista – Ensaios Sobre a Música Radical e Especulativa: “A eletroacústica liberta o compositor das imposições articulatórias de cunho métrico-rítmico”. Ao ouvinte presencial, permite uma viagem sinestésica. “Para tanto, o único pré-requisito é abrir os ouvidos e a cabeça: deixar que os sons e seus itinerários internos (espectros sonoros) e externos (espaciais) conduzam a mente a uma espécie de hipnose, em que se duvida do que se ouve e de seu próprio estado: se está dormindo e sonhando, ou sonhando acordado.”
E a discussão vai além dos conceitos da música, provocando uma reflexão mais profunda: a relação com o sonoro em geral e com a gama de significados gerados pela escuta. Uma filosofia não só da música, mas do próprio som, já que “na percepção da espacialidade dos sons, percebe-se que o ritual da performance ocupa todo o espaço; o nosso corpo toma parte de um tempo corrido e de um espaço percorrido, em permanente e caleidoscópica transformação. Por tal viés, almejo a beleza, pelas vias de uma sublime abstração”, completa Flo.
Impossível passar ileso por uma experiência num concerto de música eletroacústica. Na câmara, ou melhor, no templo, (já que só no templo acontece o verdadeiro rito), o espaço é escutado e preenchido por uma simultaneidade de sensações que alimentam uma escuta imagética. Experiência que radicaliza e estimula o desenvolvimento de outras formas de percepção para a apreciação da música.
O que é ser radical?
Olha, radical é um termo, como o próprio nome diz, e como Karl Marx dizia, que implica considerar as coisas pela raiz, mergulhar fundo e buscar onde as coisas estão realmente nascendo para poder brotar depois. Confunde-se muito “radicalismo” com “sectarismo”. Sectário é quando você, sem levar às últimas conseqüências questões específicas que colocam dúvidas sobre você, isola seu comportamento dos demais a partir de algum julgamento predeterminado, seccionando as coisas. Já o radical é aquele que vai fundo, se pergunta, se questiona o tempo todo. Um tipo de busca pela essência das coisas que tem a ver com uma índole especulativa muito profunda.
Num texto seu você diz que uma escritura musical seria o resultado de elaboração e “labor” na raiz dessa atitude diante dos sons. Então, a prática desse labor seria necessária para conseguir atingir, talvez, a profundidade da raiz...
Algo que se questiona na música eletroacústica é o fato de ela não ter uma escrita, uma notação. Entretanto, uma coisa é a escrita, com seus símbolos consensuais, convencionais, e que veiculam a processualidade da composição, e outra é a processualidade em si. Desde os primórdios da escrita musical, que se deu a partir da Ars Nova na Idade Média, tem-se a possibilidade do registro do pensamento musical pela notação, para que isso seja decodificado e refeito em diversas circunstâncias. Essa escrita possibilitou o desenvolvimento do pensamento musical, mas não se confunde com ele! E precisamente essa processualidade é o que chamamos de escritura: elaboração que se aloja na escrita, mas que independe dessa mesma escrita. Ela nasce mediada pela notação, mas toma independência como essência do próprio pensamento musical. E a música eletroacústica, num certo sentido, leva ao apogeu essa independência. Prescinde da notação, mas não do pensamento musical! Por isso disse certa vez que na música eletroacústica existe uma apoteose da escritura: ela é levada às últimas consequências, sem mediação da escrita. Você até pode ter uma “escrita” (uma partitura de realização ou uma áudio-partitura), mas na realidade a escritura se dá na cabeça e nos sons.
"Me vanglorio de ser ignorante em relação a certas coisas, porque o tempo da vida é uma tesoura numa folha de papel: você recorta um perfil e inclui nesse contorno as coisas que te interessam. Busco uma profundidade radical"
Qual sua relação com o universo pop? Sente-se aberto a ele?
O problema é inverso: o mundo “pop” não é aberto; ele se arregimenta a partir de condições extremamente estanques, modelos pré-fabricados sempre impostos por uma comunicabilidade necessariamente de massa. Isso não me interessa, porque se contenta com jogos de linguagem no nível da superfície e não representa uma abertura para mergulhos fundos como os que eu dou. Ignoro muitos nomes do universo pop, assim como ignorava o World Trade Center no dia em que caiu. Quanto estive nas proximidades desse símbolo norte-americano, procurava por livros raros em sebos de Nova York e sequer sabia da existência das torres gêmeas com seu universo econômico. Me vanglorio de ser ignorante em relação a certas coisas, porque o tempo da vida é uma tesoura numa folha de papel: você recorta um perfil e inclui nesse contorno as coisas que te interessam. Busco uma profundidade radical. Certas pessoas me acusam de estar me “alienando”, mas o que sabem, por exemplo, de um Boulez ou de um Pousseur? E essas mesmas pessoas não são sambistas da Mangueira, que estão lá em meio a uma circunstância econômica ferrada e mesmo assim conseguem fazer uma arte autêntica dentro do que é possível fazer; são pessoas abastadas, de classe média, universitárias, que têm acesso ao “alto” saber. Onde está a responsabilidade desses privilegiados diante de seus cérebros?
Tenho uma questão sobre atitudes musicais com lógica capitalista voltada ao mercado como meio e como fim. O que te incomoda nisso? Você acha que existe uma maneira de não fazer concessões na arte?
A música não tem que se voltar ao mercado. Estratégias de difusão de nossas ideias são necessárias, porque somos seres sociais. Adorno falava que “o discurso mais solitário de um artista vive do paradoxo de falar aos homens”; você pode estar na sua torre de marfim, mas estará pensando numa interlocução, o que é natural e salutar. Mas dialoga-se com as pessoas que sabem dialogar com você. Essa ideia do Público, no singular, é uma ideia capitalista, típica da indústria de massas. Toda arte que se destina a um consumo de massa não merece nem ser chamada de Arte: é uma concessão ao fácil, ao vendável. Busco uma autenticidade de meus ouvidos pensantes para veicular minha música, mediante elos afetivos, às pessoas que têm esse pensamento aberto para mergulhar fundo comigo em coisas que eu não sei, que descubro, não as que eu sei! Se eu achasse que “soubesse”, estaria fazendo meus padrõezinhos. A concessão obrigatória que se faz no capitalismo é de ordem profissional, necessária para a sobrevivência. Se você me perguntar se sou “compositor” profissionalmente, diria que não! Sou, profissionalmente, professor universitário de composição. Se a Universidade acabar, perco a minha profissão e meu emprego. Mas o ato, existencial, de ser compositor, desse não consigo me desvincular: é uma necessidade interna, de minha alma. Portanto, um tipo de concessão é a do ganha-pão; outra é a que diz respeito à linguagem musical. Mas esta é uma concessão mais sem vergonha, porque não é a da sobrevivência, é a do lucro, do reconhecimento, dinheiro, inserção em mídia, públicos, pro ego ficar bem alimentado... Todo compositor tem o ego inflamado, mas prefiro que o meu seja alimentado em decorrência de uma profunda especulação, sem concessão musical. Quem vier ao encontro de minha obra é por ter se interessado pelo que faço e acredito.
Alguns pesquisadores descrevem diversas maneiras de escutar. Quais as suas referências e com que tipo de escuta você acha que a sua música deve ser ouvida... ou pensada?
Adorno, com o qual concordo e discordo em várias coisas, classifica vários tipos de escuta, dos quais os três primeiros me parecem os mais relevantes: o “ouvinte expert”, o “bom ouvinte” e o “ouvinte de salas de concerto”. A partir desses três níveis, tem-se uma degradação do ato ritualístico da música que é necessário não só para a religião, mas também para a ciência e para a arte. Na religião, o rito sustenta o dogma; na ciência, é necessário porque subsidia o experimento; e na arte, é imprescindível porque sustenta a invenção. Essa ritualização está presente nos dois primeiros tipos de ouvintes. No terceiro, existe uma ritualização-padrão que são as salas de concerto, de um status muito mais social que propriamente musical. Duvido que os assinantes da Sala São Paulo, na sua grande maioria, entendam a profundidade da linguagem de um Beethoven quando ouvem uma de suas Sinfonias. Mas no meio deles existem os bons ouvintes e os ouvintes experts: os primeiros, raros, são aqueles que não são musicistas, mas que apreendem a música em profundidade, quase com um entendimento técnico – algo, aliás, absolutamente fundamental para entender profundamente a composição. Quanto aos ouvintes experts, trata-se de quem está na cozinha da música. Ideal seria que todos fossem, no mínimo, bons ouvintes.
"A música eletroacústica radicalizou a noção de instrumento musical, ainda que o instrumento tradicional continue mais vivo do que nunca. Todo som pode ser incorporado como veículo expressivo na elaboração do afeto e da linguagem musical"
A eletroacústica, como uma música erudita, não acaba se tornando inatingível às pessoas que não têm um certo domínio sobre os aspectos técnicos da composição?
A questão da acessibilidade da música é sobretudo econômica e social. Obviamente também depende de uma sensibilidade e de interesses individuais, mas em primeira instância depende de infraestruturas e superestruturas ideológicas. O ser humano precisaria ser educado e ter acesso à tecnicidade da arte desde pequeno, e isso envolvendo todas as artes e a filosofia. Mas a música é, admitamos, a mais difícil das artes: vive de um jogo interno muito específico e não alça voos extramusicais sem que se baseie em questões eminentemente técnicas da linguagem musical, às quais deveria se ter acesso desde o ensino básico, em graus distintos de profundidade. Não é, portanto, somente a música eletroacústica que é “inacessível”; é também o caso de todo o saber mais profundo, inacessível às pessoas “normais”, espoliadas por um sistema produtivo.
Você fala constantemente de entidades e de arquétipos na música. Poderia discorrer um pouco sobre isso?
Ao longo da história da música, sempre se produziu uma dialética entre a instituição de novas ideias e sua cristalização. Isso é muito claro no domínio harmônico. Existem tanto recursos quanto instituições harmônicas, que ora são formações harmônicas locais, ora são recursos do tempo, do discurso musical, que vão se instituindo como entidades. A entidade é o delineamento de alguma singularidade que passa a ser nomeada e que se distingue de um pano de fundo geral como uma particularidade muito clara. Quando é recorrente, verte-se em arquétipo e passa a fazer parte de um legado, de um repertório. Diria que toda entidade tende a se tornar um arquétipo, na medida em que essa entidade passa a ser repetida e se firma como algo quase coletivo. Por sua insistência e reiteração, começa a fazer parte de um arsenal mítico da cultura musical.
Mesmo no dodecafonismo, por exemplo, que pretendia não se prender a arquétipos sonoros?
O que o serialismo almejou, já desde sua primeira fase dodecafônica, foi tentar quebrar a discursividade tonal e a obrigatoriedade do uso da funcionalidade tonal. Mas isso não quer dizer que tenha negado a constituição de arquétipos. Muito ao contrário, em Schoenberg, por exemplo, já desde 1909, com a Terceira Peça pra Orquestra Op. 16, Farben – portanto bem anterior ao dodecafonismo de 1923 –, tem-se a mais clara e importante instituição de uma entidade harmônica: um acorde de 5 notas que é levemente variado e que perpassa toda a peça. Tem-se ali uma clara preocupação de fornecer à escuta alguma referencialidade harmônica. Há muitos anos falamos desse acorde como sendo o “acorde-Farben”, um arquétipo harmônico. Schoenberg almejou, assim, uma superação e uma expansão do universo tonal para outros tipos de especulação, mas não uma ruptura, tanto é que falava: “Não sou um revolucionário, sou um evolucionário”.
Com relação, por exemplo, aos acordes tonais maior, menor e mesmo diminuto, eles fazem emergir alguma emoção, algum sentimento. Dentro de uma composição complexa, como aconteceria essa sensação?
Às vezes brinco e causo risos quando me refiro ao “arrepio tonal” que sinto em certas passagens de minha obra musical: a tensão e relaxamento que são muito bem feitos no sistema tonal, talvez o mais genial sistema de referência comum que jamais existiu, tendo vigorado por cerca de trezentos anos! E com muita sabedoria: uma sabedoria que não era, claro, tanto do sistema, mas mais de quem o reinventava! Uma invenção coletiva muito genial, mas que foi superada, se alargou, se transformou, e hoje, de alguma maneira, ainda existe como um dos ramos no meio de um bosque muito mais complexo e expandido. Esse tipo de sensação – tensão e relaxamento – é totalmente possível em outros tipos de harmonia, contanto que alguns elementos estejam presentes, como por exemplo a direcionalidade, ou seja, como se conduz a escuta de um estado sonoro para outro. Os fenômenos de tensão e relaxamento não dependem apenas de acordes tonais. Podem existir em vários outros contextos, de modo bem semelhante ao que ocorria com a música tonal.
E que questões existenciais que estão presentes nas suas composições?
Em cada composição, defronto-me com dois universos, ou com uma bifurcação de dois vieses: um é o da linguagem em si, a forma como minha música fala e dialoga com outros fazeres, outras poéticas musicais, de minha época e de épocas passadas; o outro viés representa tudo o que, como atitude composicional na concepção daquela obra específica, significa como dado existencial, aquilo que se expande junto com a música para esferas muito além de uma tecnicidade “estrita”, e que é fundamental, conditio sine qua non para que a grande música exista. Toda obra implica muitos significados, uma viagem para muito além de um mero fazer momentâneo. De vez em quando abordo grandes temas: fiz uma peça eletroacústica, por exemplo, questionando a noção de Verdade, O livro do Ver(e)dito (2004). Na realidade, a filosofia sempre discutiu a Verdade e eu, como compositor, também estou discutindo ali. A música nada mais é do que uma outra forma de filosofia, muito mais técnica e muito mais inacessível, talvez ainda mais abstrata, porque verte o pensamento em vibrações sonoras. E, se você me perguntar o que falo ali sobre a Verdade, digo que se trata da concomitância de várias “verdades” e, portanto, da anulação de qualquer Verdade absoluta. São vários conceitos de Verdade ao longo da filosofia, textos de Kant a Nietzsche, de Platão a Adorno, em que dilacero a palavra, a ponto de ela se tornar ininteligível. Há, no mais, uma crescente simultaneidade dos textos tratados, chegando a treze citações simultâneas sobre a Verdade, onde você não “entende” praticamente nada! A Verdade ali está para você não entender Verdade alguma e captar, em essência, uma Verdade que se situa além de todas aquelas, uma Verdade muito mais autêntica, a Verdade do Som! Ao contrário da verbalidade, a música trilhou um caminho em prol das simultaneidades, em direção a um maximalismo da complexidade, e por isso uso textos diversos que soam ao mesmo tempo e que se desconstroem. E no entanto, ao final desta obra, emerge sozinha uma última citação em alemão, uma frase de Goethe que diz: “Não, sobre a verdade não duvido mais”, ou ainda: “Não, sobre a verdade não me desespero mais”. Nessa construção, há uma dupla leitura possível pelo uso do verbo verzweifeln (“desesperar”, mas que etimologicamente reporta-se a “duvidar”). Assim é que, depois de toda aquela simultaneidade de textos, deparamos com uma única frase, uma frase única que nem provém da filosofia, mas da poesia, ainda sobre a Verdade, porém com uma bifurcação semântica, uma polissemia dentro de um único vocábulo, numa simultaneidade de sentidos. Ao contrário, porém, do que queria Goethe, minha música não se inicia quando silenciam as palavras; ambas, música e palavra, coabitam o mesmo espaço-tempo. E assim dou minha resposta sobre a Verdade.
"A questão da acessibilidade da música é sobretudo econômica e social. Obviamente também depende de uma sensibilidade e de interesses individuais, mas em primeira instância depende de infraestruturas e superestruturas ideológicas. O ser humano precisaria ser educado e ter acesso à tecnicidade da arte desde pequeno, e isso envolvendo todas as artes e a filosofia"
Outra vez você me disse que um dos problemas da nossa era seria a falta de utopia, das pessoas sonharem... Utopia é um espaço que não existe. No entanto, a eletroacústica precisa de um espaço adequado para sua difusão. Não seria tal necessidade essencialmente tópica?
Toda obra de arte institui um espaço de fruição que remete ao templo das religiões, em que implica um “religare” que não é religião, mas religiosidade, que não é culto, é rito. Para poder entrar ali e fruir a obra, você precisa da senha! Como uma espécie de maçonaria. Se você dispuser dessa senha, entra nesse templo; se não, fica de fora. Mozart percebeu esse teor quase secreto da grande Arte e foi buscar literalmente na maçonaria seus esconderijos. Mas a ideia de uma “maçonaria” não precisa de maçons e da maçonaria em si: ela se faz presente na composição, na música. Existem rito e templo: o templo são as salas de concertos, os teatros, e toda música executada ao ar livre é a morte da grande música. O templo é uma redoma acústica onde há condições ideais de apreciação do sonoro. A entrada pode ser livre, mas para adentrar ali e fazer parte deste rito você tem que ter a senha. E a senha é o mergulho profundo, o conhecimento e a predisposição. Algo que pode estar presente na pessoa mais analfabeta e desprivilegiada desse mundo.
Como você se apropria dos sons em suas obras?
A música eletroacústica radicalizou a noção de instrumento musical, ainda que o instrumento tradicional continue mais vivo do que nunca. Luciano Berio falava que um instrumento possui uma “história psicológica”, porque lida com estados de afeto e de elaboração que se cristalizaram em seu repertório ao longo dos tempos. Entretanto, a música eletroacústica estendeu e radicalizou essa noção, a ponto de você se apropriar, salutarmente, de todo e qualquer som. Todo som pode ser incorporado como veículo expressivo na elaboração do afeto e da linguagem musical. Mas, dependendo do som e do tipo de tratamento que você dá a ele, tem-se uma maior ou menor referencialidade embutida no objeto sonoro, e essa referencialidade, quando é muito literal, reporta a uma situação anedótica que é, a meu ver, pouco interessante para a música. As realizações eletroacústicas mais interessantes são aquelas mais distantes do caráter anedótico, quando então os sons adquirem um potencial radicalmente abstrato. Quando isso ocorre, o som não se reporta a nada, mas ao mesmo tempo também não provém de nenhum instrumento reconhecível. Aí, sim, instaura-se uma situação acusmática: termo proveniente da escola pitagórica – os “acusmáticos” –, que procuravam ouvir e perceber as palavras do mestre e entender seus ensinamentos sem olhar para as causas materiais dos sons. Atingia-se assim uma alta concentração na abstração dos sons e, quando se dá essa situação, algo da ordem da sinestesia acontece, não propriamente ligado a uma situação visual ou ambiental. E esse é um transe muito interessante, porque você começa a penetrar de fato na escuta do âmago dos espectros, podendo ser induzido a situações de concentração quase hipnóticas, num estado que chamo de intertensão, de dentro dos sons, bem distante das distrações dos entretenimentos...
"Erro e risco fazem parte de toda obra radical. A diferença da política com relação à arte é que o erro, na política, é a morte. Na ciência, o erro se traduz em perda de tempo, mas aí, às vezes, o erro pode ocasionar uma descoberta involuntária. Já na arte, às vezes almeja-se o próprio erro, dialoga-se com ele, avaliam-se as imperfeições, enaltecem-se as “rugosidades”, os pequenos desvios. A imprevisibilidade é um elemento fundamental na música"
Você acha que há uma diferença fundamental dos meios analógico e digital, mesmo com relação à difusão sonora?
Lembro-me de uma frase de Stockhausen em que dizia que todo novo meio traz novos recursos e novas possibilidades, abrindo novas portas e instigando o compositor a novos processos, mas ao mesmo tempo deixa para trás outros tantos que eram tão importantes e tão interessantes quanto os novos caminhos. Não há, nas produções artísticas propriamente ligadas à tecnologia musical, uma evolução propriamente linear, em que possa se afirmar que uma coisa é “melhor” que a outra. Por certo há aprimoramentos, mas se paga o preço de deixar outras coisas muito interessantes para trás, como de resto ocorreu com toda a história da música. Vivi bem essa transição da era analógica para a digital: comecei minhas experiências em música eletrônica em 1985 no Brasil e, na Alemanha, em 1986, trabalhei muito com fita magnética. Lembro-me quando chegou o primeiro processador tipo sampler em Colônia, com o qual podia se visualizar a forma de onda do som: um PPG de Hamburgo. Foi uma loucura! Fiz minha primeira peça lá já com aquele aparelho, que armazenava até... quinze segundos de som! E, se usássemos uma frequência de sampleamento um pouco melhor, de apenas 15 kHz, poderíamos ter sons com no máximo 7,5 segundos! Apesar daquelas limitações, toda aquela novidade era genial, mas ao mesmo tempo me lembro com tanto carinho o cheiro daqueles velhos equipamentos, assim como de meu primeiro gravador de fita magnética, que comprei com 13 anos e que guardo até hoje... No analógico, você tem uma aproximação mais imediata com a matéria sonora por um fluxo contínuo, que implica uma relação direta com a captação sonora e com o gesto, enquanto no digital você tem um processo de corte, de discretização numérica, de “pixelização” do som e do tempo que te possibilita a apropriação sonora e um voo para zonas muito mais distantes, quase virtuais, de apreensão auditiva. Mas há o risco, aí, de perda do aspecto gestual do som. Tenho a vantagem de ter vivido as duas épocas, de saber que o gesto faz parte do ser humano e do afeto, porque se perdemos essa dimensão viramos um escravo das máquinas, como aliás ocorre com as novas gerações em relação à internet: ela possibilita a informação de várias coisas distantes, acessadas por hiperlinks, mas ao mesmo tempo fragmenta o conhecimento. E, no convite ao dinamismo fragmentário dos hiperlinks, esquece-se de um tempo que é um tempo do gesto, que é um tempo, diríamos, da “dilatação analógica do conhecimento”, insubstituível! Mesmo sendo um defensor da tecnologia, não abro mão de momentos em que pego um livro impresso e vou para longe de qualquer eletricidade para passar cinco horas lendo filosofia. Esse tempo analógico está ameaçado, porque é um tempo diferido, não um tempo real... É dilatado no tempo: o tempo do conhecimento, porque o conhecimento exige detenção e extensão alongada da experiência. Vivemos a era do fast food, do “fast foda”, da fast music, do fast knowledge, do “fast tudo”. Há momentos em que é necessário dilatar o conhecimento, renunciar a toda rapidez e virar um troglodita poliglota na varanda de uma sacada, com um livro impresso ns mãos, sentindo o tempo passar ao gosto de alguns cafés...
No nosso estúdio temos conversado sobre a questão da improvisação e do jazz. Você poderia fazer alguma relação entre a improvisação de um free jazz, por exemplo, e a que ocorre numa música complexa, como a eletroacústica?
A questão da improvisação é delicada. Berio disse certa vez, com pertinência, que “a improvisação pode chegar no máximo a uma articulação silábica, enquanto na composição escrita chega-se a uma articulação fonêmica”. A improvisação está para o fracionamento do gesto especulativo assim como a não-improvisação e a composição estão para um tempo dilatado dos gestos, em que, paradoxalmente, o fracionamento do sonoro pode atingir estágios ainda mais radicais, já que se entra nos meandros dos poros da composição, até sua articulação fonêmica, trabalhando no nível dos detalhes, não da superfície. Há, contudo, situações específicas na composição em que perderíamos um tempo enorme e faríamos os intérpretes sofrerem para que se atingisse um resultado muito parecido ou mesmo pior do que o que atingiríamos pelas vias de uma “improvisação dirigida”. Nesses casos, lançamos mão da improvisação, desde que regulada por um controle minucioso do sonoro.
Quanto do erro da improvisação existe no seu processo de composição?
O erro independe da improvisação. Erro e risco fazem parte de toda obra radical. A diferença da política com relação à arte é que o erro, na política, é a morte. Trotsky podia ter eliminado Stalin na década de 1920, deixou barato, e acabou levando a picaretada na cabeça no México, em 1940. Na ciência, o erro se traduz em perda de tempo, mas aí, às vezes, o erro pode ocasionar uma descoberta involuntária, como por exemplo foi o caso com a descoberta da penicilina. A ciência busca acertar o tempo todo, mas às vezes acerta através de um erro impremeditado. Já na arte, às vezes almeja-se o próprio erro, dialoga-se com ele, avaliam-se as imperfeições, enaltecem-se as “rugosidades”, os pequenos desvios. A imprevisibilidade é um elemento fundamental na música. Aí, a previsibilidade é que é a morte! Schoenberg dizia, no Tratado de Harmonia, que o erro tem, na música, um lugar de honra, porque sem o erro alcançaríamos a Verdade, e seria insuportável se a conhecêssemos. E realmente, imagine se soubéssemos o que é a Verdade... O ser humano move-se por espirais, e o mais gostoso da vida é poder ressignificar as coisas! Reler as coisas, revisitar os afetos, rever suas convicções pelo prisma do já vivido, do ainda por viver e do já vivido por outras vidas. Acendemos nossas lanternas e, naqueles eixos espiralados das curvas que fazemos, lançamos novos jatos de luz, que se refletem nas bordas de várias espirais de outros tempos. Espirais lá de baixo refletem nas curvas mais atuais. É esse pensamento espiralado que move tudo. Estamos falando e não falando as mesmas coisas o tempo todo! Stockhausen tem uma frase interessante: “Ao passear na Lua, será mais interessante encontrar uma maçã do que uma pedra lunar”. A maçã, ali, é tudo: é o antigo no ambiente novo, e esse olhar é uma ressignificação. Porque poder redizer as coisas é um dos exercícios mais deliciosos que existe!
Você é um aficionado pelas palavras...
Bem, talvez a maior invenção coletiva das civilizações sejam mesmo as línguas, que para mim são como composições coletivas, como músicas impuras. Por isso domino seis línguas, e ainda acho pouco; as estudei com enorme prazer, como se estivesse estudando uma partitura de Beethoven. Da mesma forma como a maior invenção coletiva na música foi a orquestra, em que os planos de simultaneidade foram expandidos na maior radicalidade possível, a maior invenção monofônica da humanidade foi a língua falada. E nela temos um curioso paradoxo: falar, como disse antes, é um ato de monofonia; você fala com todos porque fala uma linguagem de todos, mas ao mesmo tempo fala sozinho o tempo todo, porque do contrário ninguém te entenderia! Essa dicotomia entre o polifônico e o monofônico, na orquestra e nas línguas, muito me intriga...