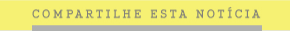
Quem vê Mac McCaughan e Laura Ballance quicando intermitentemente de um lado para o outro durante uma ventania, no palco do show de encerramento da Virada Paulista 2011 em Sorocaba, interior de São Paulo, mal pode acreditar que os dois já passaram dos quarenta anos. A energia juvenil da dupla de frente do Superchunk – que além do guitarrista/vocalista e da baixista conta com o baterista Jon Wuster e o guitarrista Jim Wilbur – não parece ter esvanecido em nenhuma medida nos mais de vinte anos que separam a estreia do grupo em 1989 em Chapel Hill, na Carolina do Norte, e os dois shows gratuitos realizados no Brasil em 2011.
Além de capitanear os rumos da banda, os dois também são fundadores da Merge Records, uma das mais importantes gravadoras do indie rock norte-americano, tendo lançado artistas como Arcade Fire, Spoon, She & Him, Lambchop e Neutral Milk Hotel. Após uma série de encontros e desencontros, conversamos ao vivo e por Skype com a dupla, falando sobre música brasileira, os efeitos positivos de passar menos tempo na estrada e se um Grammy faz tanta diferença na prateleira – e no bolso – de um artista.
Vocês não estão em turnê – aliás, estão viajando bem menos com o Superchunk hoje em dia.
LAURA BALLANCE . A gente até fez algumas turnês por um tempo, na época do lançamento do disco. Em setembro de 2010 fizemos uns nove shows, em outubro uns dez. Nos últimos meses fizemos apresentações esporádicas desde que Majesty Shredding saiu.
E mesmo sem fazer turnês vocês acabaram voltando ao Brasil.
LB . Nós viemos para cá há uns dez anos e gostamos muito. Quando apareceu o convite para tocar na Virada Cultural do estado, nem pensamos muito.
Nas primeiras vezes que vocês estiveram no Brasil, tocaram em clubes pequenos, e desta vez se apresentaram em grandes palcos abertos. Sentiram alguma diferença?
LB . É sempre diferente tocar em clubes menores e em grandes palcos. Eu prefiro os clubes, você fica perto da plateia, sente melhor a energia. Mas aqui eu senti a mesma coisa.
MAC MCCAUGHAN . Isso foi interessante. As pessoas pareciam estar longe da gente, mas não sentíamos elas tão longe.
Da última vez que estiveram no país, vocês pulavam o tempo todo no palco. E agora, dez anos depois, a energia continua a mesma. Existe um segredo da juventude?
MM . Acho que isso tem mais a ver com a plateia. Você precisa ter a mesma energia que eles. A gente também tirou um tempo sem fazer turnês longas. Não fazemos mais tantos shows por ano. Se estivéssemos tocando com mais frequência, talvez estivéssemos mais cansados, estar descansado ajuda. Nós também temos um repertório bem grande e podemos escolher um setlist diferente para cada noite. Algumas músicas tocamos em todos os shows, mas cada um vai ser diferente sempre.
E não estar mais em uma banda ajuda na hora de vocês se encontrarem para compor e gravar um disco novo?
LB . De certa forma isso ajudou sim, não ficamos mais enjoados uns dos outros (risos).
MM . Também acho que isso ajuda a ter uma abordagem mais arejada da música. Se você está gravando discos em sequência, tentando fazer um soar diferente do outro, o último álbum que você gravou fica na cabeça enquanto está gravando o novo. Quando passamos tanto tempo sem gravar, podemos simplesmente criar um novo disco, sem se preocupar tanto com o que foi feito no anterior, ou no antepenúltimo. É só gravar.
Vocês falaram sobre manter a energia em cima do palco, mas músicas como “Crossed Wires”, do Majesty Shredding, parecem ter o mesmo frescor de “Slack Motherfucker” (do disco Superchunk, de 1990). Como vocês mantêm o pique dentro do estúdio?
MM . Nós realmente queríamos que o disco soasse bem, mas também soasse vivo. Gravamos três, quatro músicas por vez, e logo depois de aprendermos como tocá-las. Existe um pouco de espontaneidade nas músicas, não é algo que parece que tocamos centenas de vezes numa turnê. Às vezes pode ser um tiro pela culatra, porque geralmente você toca melhor a música depois de ter passado uma turnê com ela. Mas nesse caso nosso som ganhou um pouco mais de energia.
Vocês nunca pensaram em voltar a sonoridades como a de Come Pick Me Up (1999) e outros álbuns menos barulhentos?
MM . Poderia ser legal, mas a nossa experiência com Here’s To Shutting Up (2001) foi complicada. Passamos muito tempo compondo as músicas, depois ensaiamos bastante, até o ponto em que pareceu que tínhamos trabalhado demais nelas, havia um exagero. Nosso novo disco é o oposto disso.
LB . Eu sinto que há um aspecto diferente nessas novas composições em relação às de Here’s To Shutting Up. Elas parecem mais enérgicas e mais leves. No tempo que ficamos sem gravar nada, fazíamos shows ocasionais, e na hora de escolhermos o repertório preferíamos as músicas mais rock, sem teclados e arranjos complicados. Na hora de gravar Majesty Shredding fez mais sentido compormos músicas que gostaríamos de tocar nos shows, coisas divertidas.
“Learned to Surf” foi a primeira faixa que vocês divulgaram do novo álbum, ainda em 2009. Como é escrever sobre surfe – e, melhor, sobre aprender a surfar – aos quarenta anos?
MM . Eu e a minha família sempre passamos o verão na praia, e o surfe é algo muito importante na Carolina do Norte. A música na verdade é mais uma metáfora sobre envelhecer e surfar. Mas, sim, eu aprendi a surfar!
Nesse meio tempo vocês desenvolveram projetos paralelos. O Portastatic se tornou algo mais sério, e não mais uma coisa encaixada entre as turnês do Superchunk. Como foi dar esse espaço para o Portastatic na sua vida? O projeto mudou muito?
MM . Foi divertido. É complicado, porque de certa forma é mais trabalhoso que o Superchunk. Tudo ali vem de mim, não existe um disco se eu não for lá e fizer um (risos). Mas obviamente é ótimo poder fazer o que quiser, qualquer tipo de disco, seja uma trilha sonora, um disco mais normal de rock, como o Bright Ideas (2005), ou algo mais eclético como o Be Still Please (2006). É divertido poder fazer tudo isso, mas ao mesmo tempo é meio exaustivo, porque não há ninguém do lado para perguntar “O que você acha disso? Ficou bom? Ficou ruim?”, você é a única pessoa que se preocupa. Mesmo que tenha alguém tocando com você, não interfere nas ideias. Você não tem nenhum retorno.
O EP do Portastatic De Mel, De Melão (2000) é uma abordagem divertida da música brasileira. Como você escolheu o repertório, que não é tão óbvio?
MM . Comecei com várias músicas e fui escolhendo as faixas para as quais eu conseguiria fazer arranjos que funcionassem, e também aquelas que conseguiria cantar – porque escolhi cantar em português. A Alê [Briganti] do Pin Ups traduziu as músicas para mim, para eu decidir, misturando as letras em inglês e português. Escolhi as faixas que funcionariam, porque em algumas a tradução não fazia sentido, ou eram muitas palavras. Acho que tem uma faixa que não funcionou muito, a do Arnaldo Baptista, “I Fell in Love One Day”.
E como você fez para saber como pronunciar as partes em português?
MM . Eu não sei se acertei a pronúncia, mas ouvi bastante os discos.
Tem bastante sotaque, mas até que está bem inteligível para alguém que não fala português.
MM . (risos) Ah, que alívio. Fiquei ouvindo diferentes versões das músicas, tentando descobrir como elas eram cantadas.
Não sei se vocês perceberam isso de alguma maneira, mas eu acho que o interesse de grupos como vocês e o Stereolab por música brasileira fez com que muitos fãs brasileiros de indie rock parassem de torcer o nariz para a MPB.
MM . Era engraçado porque, da primeira vez que viemos aqui, quando falávamos dos discos que queríamos comprar, as pessoas perguntavam: “Mas por que vocês querem isso?”.
LB . “Isso é música para velhos!” (risos)
MM . Com certeza havia um grande respeito por essa música, ninguém estava tirando sarro, mas a atitude era meio: “Ahn, eu nem ouço esse tipo de coisa, é dos meus pais”. É estranho, porque para mim essa música é muito moderna. Mas eu sou velho, então talvez realmente seja música para gente velha.
Mas para você era uma música nova, você não ouviu isso dos seus pais, veio de fora.
MM . Sim, é verdade. Também tem o fato de que essa música tem muito de excêntrico, estranho. A produção dos discos da Gal Costa dos anos 60 e 70, dos discos do Gilberto Gil, são muito loucas. Também tem o Tom Zé, é tudo muito diferente. Para mim isso envelheceu muito bem.
Existe uma nova leva de bandas tocando músicas que poderiam ter sido compostas nos anos 90. Eu imagino que o Yuck deva muito do seu som a vocês. Vocês apreciam essa ideia de a música do Superchunk influenciar pessoas vinte anos depois? Como é estar em uma banda de “rock clássico”?
LB . (risos) Eu acho que esse aspecto, de agora sermos artistas de “rock clássico”, é meio engraçado mesmo. Mas parece que existem esses ciclos, certos estilos se repetem. Há alguns anos todo mundo estava ligado na música dos anos 80, e agora é a vez dos anos 90, e os ciclos estão cada vez mais rápidos.
MM . É interessante, eu gosto do disco do Yuck, mas não acho parecido com o nosso som. Me lembra de coisas de que eu gostava na época, como My Bloody Valentine e Dinosaur Jr. E acho as músicas deles muito boas. Se eles tivessem apenas pegado a sonoridade desses artistas e as composições não fossem boas, eu não conseguiria ouvir mais de uma vez. Também acho que dizer que “ah, essa banda soa como a gente, ou foi influenciada pela gente” é meio... Bom, também fomos influenciados por outras bandas, e eu nunca senti a música que fizemos como algo revolucionário, algo que ninguém havia feito antes.
Quando se fala sobre meninas tocando baixo no rock, normalmente as pessoas pensam em Kim Deal (Pixies, Breeders) e em Kim Gordon (Sonic Youth), mas seu estilo parece que foi tão influente quanto o delas. Muitas garotas vêm conversar com você sobre isso?
LB . Sim, várias garotas já vieram me falar sobre como eu as inspirei. Quando penso em mim no palco, não me vejo como uma menina, acho que vai além do gênero, e eu duvido que a Kim Gordon e a Kim Deal se vejam dessa maneira. Eu não quero tocar “como menina”, quero fazer barulho como qualquer um. Uma grande inspiração para mim foi Julia Cafritz, do Pussy Galore. Ela não tocava baixo, mas era incrível.
No livro Our Noise é possível perceber uma diferença significativa na atitude de vocês dois em relação à Merge. As coisas ainda funcionam assim?
LB . Com certeza. Eu tenho a tendência de ser mais conservadora nas finanças – não só pela empresa, mas principalmente pelas bandas. Porque muitas delas têm a esperança de ganhar a vida vendendo discos, e às vezes o Mac não pensa no lado dos artistas, ele vem e fala: “Acho que seria incrível fazermos uma embalagem bem elaborada para o disco”, ou “Sim, vamos gastar 20 mil dólares para fazer um clipe, vai ficar ótimo!”. E as bandas concordam com ele, “Isso, massa!”, mas não percebem que vai afetar a renda deles também. Então eu tenho que ser a “sra. Más Notícias” o tempo todo (risos). “OK, esse é o orçamento. E é isso que vamos fazer.” Estamos conversando agora com Kurt Wagner sobre o novo disco do Lambchop, e ele e o Mac ficam falando sobre fazer remixes, um vinil cheio de frescuras. E eu falo: “Não! Vamos fazer um vinil normal, de 120 gramas, já vai ser um disco duplo!”
O crescimento do mercado do vinil ajudou a Merge de alguma maneira?
LB . A venda de vinis representa em torno de 5% do nosso total de vendas. Está crescendo, e espero que continue assim. Como produto físico, gosto muito mais de vinil do que de CDs. Não parece algo tão barato, sabe? Um CD é só um pedaço de plástico, não parece uma coisa viva. E aqueles encartezinhos... Por que então não comprar um download em vez de um CD? Vinil faz mais sentido para mim. E todas as gravadoras hoje vendem vinis com direito a download do disco junto, então você vai poder carregar o disco para qualquer lugar. Espero que o CD desapareça. Não sei se isso vai acontecer em algum momento, mas seria ótimo se tivéssemos apenas vinis e downloads. Se o selo fosse só meu, tentaria isso.
Ao mesmo tempo, In the Aeroplane Over the Sea, do Neutral Milk Hotel já esteve no top 10 dos vinis mais vendidos nos EUA.
LB . Isso é incrível, o disco está lá, com os Beatles e o Led Zeppelin. Virou um clássico, foi muito legal isso acontecer.
Como é ser dono de uma gravadora que já tem discos clássicos no catálogo? É como “descobrir os Beatles”?
LB . Eu não consigo me sentir como a pessoa que “descobriu” essas bandas. Porque eles mesmos fizeram a parte mais importante de tudo. Pense no Neutral Milk Hotel. O Jeff estaria fazendo música com ou sem a gente, foi nosso advogado que nos deu um uma fita cassete que tinha ganhado do Jeff. Ele caiu no nosso colo, foi pura sorte. O Lambchop foi do mesmo jeito. É um presente que você ganha. Tivemos a condição de reconhecer essas coisas no momento, saber que eram boas, e a iniciativa de lançá-las.
No livro Our Noise você diz que uma das coisas de que mais gosta no seu trabalho com a Merge é a possibilidade de preencher um cheque bem gordo para as bandas.
LB . Sim, adoro. Hoje em dia isso acontece mais do que antigamente, em especial com bandas como Spoon, Arcade Fire, She & Him e M. Ward no selo. De vez em quando eu mando um cheque com vários dígitos e um “Uhu! Parabéns!”
O Arcade Fire ganhou o Grammy de melhor álbum. Isso mudou as coisas na Merge? Existe uma preocupação sobre o quanto a gravadora pode crescer?
LB . Sim, a gente se preocupa um pouco. Agora ganhamos um Grammy, que vantagem podemos tirar disso? O que pode ser feito? Tentamos dar nosso melhor. E, ainda assim, eles não venderam milhões de discos depois de ganhar o Grammy. Eu tenho a impressão de que os empresários deles esperavam vender. “Por que a gente não está vendendo um monte depois que ganhamos o Grammy?,” e eu fico (faz voz de choro): “Ah, não sei, estamos tentando!” (risos) Talvez as pessoas ainda não conheçam o Arcade Fire. Talvez tenha acontecido porque nós não somos uma gravadora grande o suficiente para lidar com isso da maneira certa, mas não acho que é isso. Não somos apenas nós, é a banda também. Eles têm um grande séquito de fãs, mas não são uma banda que agrada todo mundo hoje em dia. Lady Gaga e Britney Spears atingem todo mundo, mas não o Arcade Fire. Os empresários do Arcade Fire ficam reclamando: “O Mumford & Sons está vendendo muitos discos, e eles parecem o Arcade Fire! Por que nós não estamos vendendo?”. E eu respondo: “É porque o Arcade Fire é uma banda boa!”
E como foi para a Merge o fim da distribuidora Touch & Go? Foi um golpe muito forte?
LB . Foi um choque. Quando uma coisa está na sua vida há tanto tempo, é difícil se imaginar sem ela. Quando o Corey Rusk contou para a gente que ia parar de distribuir, ficamos paralisados. Porque também afetou um monte de gente que a gente conhecia, que trabalhava lá. Foi devastador, eles perderam o emprego. Alguns meses depois nós tocamos em Seattle, eu jantei com o Corey e ele me explicou o que aconteceu. Disse que olhou para os números dos últimos anos, começou a perceber que os discos vinham vendendo cada vez menos e, da maneira como ele montou a Touch & Go, a gravadora se transformou em uma operação muito grande, então ele teria que reduzi-la drasticamente para sobreviver. E isso também seria doloroso, deixaria as pessoas na mão. E esse não é um negócio que vai crescer, ele teria que seguir reduzindo, então decidiu que não podia continuar. Eu acho que ele provavelmente tomou a decisão certa. É ruim não ter ele conosco, mas hoje vemos cada vez mais distribuidores lutando contra isso.
----
Saiba mais
superchunk.com
mergerecords.com