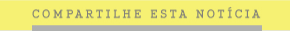
O salto entre os bastidores dos palcos e o comando da banda do programa de Jimmy Fallon, que vai ao ar ao vivo todas as noites nos EUA pelo canal NBC, é uma trajetória única na história musical de Ahmir Thompson. Fundador do The Roots, ele fala sobre a discussão do underground com Jay-Z e as ciladas da “geração YouTube”
São 11h no estúdio 6B da NBC no Rockefeller Center, em Nova York. Em um primeiro momento, o único barulho que se escuta é o do aspirador de pó indo e vindo nos corredores, entre assentos ainda vazios. É o começo dos preparativos para a gravação do Late Night with Jimmy Fallon. Uma pequena pausa na faxina nos permite ouvir uma sequência de toques de bateria vinda dos estúdios.
Seguindo o som pelos corredores e virando à esquerda, chega-se a uma porta azul; a plaquinha com o nome The Roots estampado convida a entrar. Na parede ao lado da porta, chama a atenção um Grammy emoldurado em vidro. Do outro lado da porta está Ahmir Thompson, ou “Questlove”, ensaiando uma das inúmeras músicas que ele e seus companheiros de banda tocarão dentro em pouco, quando o Late Night enfim tiver entrado no ar.
Sou um privilegiado em poder ver Thompson tocar de tão perto, em carne e osso, no 6º andar do Rockefeller Center, onde agendo os músicos convidados para o Late Night. Poder tratar Questlove e o The Roots como meus colegas durante as quatro horas do nosso programa me deixa muito feliz. Mas o ritmo do nosso Late Night é tão alucinante que demorou quase tudo isso para eu finalmente conseguir me sentar com Ahmir e conversar com ele sobre a sua história com a música.
Ahmir nasceu em 20 de janeiro de 1971 na Filadélfia, filho do gigante do doo-wop Lee Andrews, da Lee Andrews and the Hearts. Suas memórias mais antigas estão relacionadas a turnês acompanhando o pai e, na época de adolescente, ao seu posto de baterista oficial da banda. Durante seus estudos na famosa Philadelphia High School for the Creative and Performing Arts, conheceu o futuro membro do Roots, MC Tariq Trotter, com quem alimentou ambições ao lado de um corpo discente que incluiu uma série de futuras estrelas da música.
Questo durante show de 5 anos do blog Só Pedrada Musica no Espaço Soma, em 2011.
Você teve a sorte de crescer em uma família de músicos profissionais. Para quem não teve essa oportunidade extraordinária, existe alguma forma de viver uma experiência parecida?
Entre os 2 e os 13 anos, aprendi tudo sobre o show business. Comecei como explorador, descobrindo como sair da minha casa para uma boate ou até para outro estado - tive que aprender a usar mapas aos 7 anos. Me formei primeiro como figurinista, lavei roupa a mão e a vapor e engomei roupas brancas. Aos 10 anos, fui fazer iluminação de palco, e aprendi também a operar diferentes sistemas de som. Eu chegava antes da passagem, marcava os holofotes e conseguia uma escada. Lá pelos 10 ou 11 anos comecei a aprender os acordes básicos. Conhecia o repertório do meu pai de cor e salteado, portanto já identificava muito cedo as primeiras notas musicais. Aos 12 ou 13 já era baterista e logo depois líder da banda. Durante todo esse tempo, observei muito as apresentações da minha mãe e do meu pai. Nem me dei conta de que, depois, o Roots incorporou aquelas lições. Na realidade, ficamos famosos nos karaokês de hip hop. Meu pai não só compôs “músicas”, mas canções feitas para serem tocadas, que se tornavam familiares facilmente. Meus pais sabiam perfeitamente conduzir um show: nos primeiros cinco minutos, ganhavam a plateia com algo conhecido. Nas duas músicas seguintes, minha mãe se tornava o centro das atenções, como comediante. Para mim era natural achar que aquela era uma educação básica, comum - assim como era óbvio que qualquer criança seria capaz de chegar sozinha a Muncie, no Indiana. Eu sempre me surpreendia: “O quê? Você nunca foi numa casa noturna?!” Só fui me dar conta do meu privilégio muitos anos depois.
Como foi para você cursar o segundo grau, em um ambiente escolar mais certinho? Teve algum choque?
Bom, eu tive que começar tudo de novo. Aos 8 anos, eu tocava bateria como adulto – tinha aquela coisa de colocarem um garotinho no show etc. O show do meu pai era tão bom que transcendia o circuito dos coroas. Ele tinha uma esposa modelo e dois filhos que desafiavam músicos mais experientes no palco, coisas que usava a seu favor. Quando entrei no segundo grau, deixei de repente de ser o tubarãozinho no mini-aquário para me tornar uma sardinha no Oceano Pacífico! Logo no segundo dia de aula, [o baixista de jazz] Christian McBride e [o pianista e trompetista] Joey DeFrancesco deixaram a escola para tocar na TV da Filadélfia com Miles Davis. Eu era só o quinto baterista, tocando triângulo e às vezes um tamborim, estava longe de ser a estrela de antes. Era frustrante, mas hoje agradeço que tenha sido assim. O Boyz II Men era a estrela de nossa escola, tinham todas as tietes. Tariq e eu tivemos aquele momento somente depois de nos formarmos. Mas conseguimos levar nossa carreira meio que como a tartaruga e a lebre, e hoje conseguimos manter um padrão de vida excelente, quando muitos dos nossos contemporâneos já estão em declínio.
"Uma das coisas que me deixam mais triste com relação ao momento atual da música é a ideia de que a cultura do underground não interessa mais a ninguém. O hip hop se apunhalou com a própria faca lá por 1997, quando de uma hora para outra só os vencedores tinham valor, e os perdedores ou os guerreiros não significavam mais nada."
Onde, segundo o que você observa hoje, estão se desenvolvendo talentos novos e emergentes?
Uma das coisas que me deixam mais triste com relação ao momento atual da música é a ideia de que a cultura do underground não interessa mais a ninguém. O hip hop se apunhalou com a própria faca lá por 1997, quando de uma hora pra outra só os vencedores tinham valor, e os perdedores ou os guerreiros não significavam mais nada. Ninguém mais quis acolher o underground, e hoje vivemos uma era de sucessos. O Puffy inaugurou essa era, na minha opinião. A narrativa ficou muito motivacional e só se fala em vencer, não se celebra mais o cara que leva a água, o estatístico ou o treinador-assistente – pessoas que também carregam o piano. Virou só destaque, destaque e destaque. Acho que a maior discussão que eu tenho com o Jay-Z é sobre a necessidade de se pagar adiantado pelo estabelecimento de uma cultura. Hoje, não existe mais um contexto subcultural na black music. O Roots se tornou um sucesso porque decidimos chamar só os mais feras para o nosso círculo íntimo. Não foi coincidência termos saído de vendas de 200 mil para um disco de platina. Com o Mos Def foi a mesma coisa. Com o Gang Starr, D’Angelo, Talib Kweli e Erykah Badu idem.
Esse movimento está crescendo e isso é o resultado: ele pode ser contextualizado. Como acontece com a maioria dos guerreiros do underground, o sucesso é como a parábola bíblica de Ló: assim que você alcança, não quer mais olhar para Sodoma e Gomorra. É um sacrilégio olhar para o passado, você acaba se isolando. Na era do YouTube, sim, você pode sentar no seu quarto, fazer um cover do Little Dragon e se transformar numa celebridade na hora. É bom, mas é temporário. Não vai te dar uma carreira de 20 anos.
Questlove em DJ set no Espaço Soma, em 2011.
Então quais habilidades são necessárias para um talento verdadeiro?
Eu não sei se é uma questão de habilidade ou apenas a vontade de fracassar em público. Um grande exemplo disso é Jill Scott e Jaguar Wright. Elas eram duas amigas do Roots. Conhecemos elas em 1994 ou 1995. Quando começamos a fazer jam sessions em casa, Jill ainda estudava e trabalhava, e Jaguar trabalhava na WaWa, uma lojinha de conveniência. Toda semana elas vinham em casa para as sessions. Mesmo sendo amigas, rolava meio que uma competição. Jaguar tinha um talento absurdo para o freestyle vocal, fazia o público delirar. Jill quis ser melhor e começou a praticar em casa. Aí, na semana seguinte, era ela que conquistava a galera. Isso aconteceu todas a sextas dos anos de 1997, 1998 e 1999, incluindo alguns domingos. Se você ensaia três horas diárias durante três anos, vai se tornar um dos melhores performers do mundo. É essa a ideia do workshop: o princípio da paciência e da espera. É um valor que parece perdido hoje. Eu queria que esse método fosse mais praticado. Trabalhando aqui, testemunhei artistas com apenas um ano ou dois de experiência que pipocam e correm para o banheiro. Nós estávamos muito nervosos nos nossos primeiros dois shows no Late Night. Hoje eu dou risada pensando no passado, porque já tocamos muito. Acho que é menos uma questão de talento e mais de força de vontade e paciência.
"Eu tinha a opção de fazer uma aula para 100 alunos, mas disse que queria o mínimo, então fiquei com 24 alunos. Eu só quero ensinar a arte da paciência necessária para se ouvir uma música. (...) Um dia entrei no Twitter e me dei conta de que essas coisas básicas, que eu encarava como corriqueiras, tinham que ser passadas adiante, sabe?"
Você vai começar a dar aulas sobre álbuns clássicos na NYU. Que tipo de ideias pretende transmitir aos estudantes?
Decidi começar pelo mais simples. Eu tinha a opção de fazer uma aula para 100 alunos, mas disse que queria o mínimo, então fiquei com 24 alunos. Eu só quero ensinar a arte da paciência necessária para se ouvir uma música. Tenho que funcionar como uma enciclopédia da música e, como produtor de hip hop, aprendi a destrinchar discos. Você coloca um e escuta até riscar, procurando por um sample ou um break. Estou tentando fazer o caminho inverso e explicar para as pessoas por que alguns discos são mais importantes que outros. Depois, é com eles. Eles agora têm muito mais informação à disposição do que alguém da minha idade, nascido em 1971. Mas o que eu acho é que faltam professores que os coloquem no caminho certo. Esta manhã mesmo eu tive que repreender um aluno que censurou outro por não saber que “It’s a Shame” não era um rap de Monie Love, mas uma música dos Spinners dos anos 1960. Um dia entrei no Twitter e me dei conta de que essas coisas básicas, que eu encarava como corriqueiras, tinham que ser passadas adiante, sabe? Há muita informação de fácil acesso por aí, tem que ter paciência para filtrar isso, assim como tem que ter paciência para ajudar alguém a administrar toda essa informação.
Eu tenho a sensação de que, quando eu era jovem, parecia haver uma quantidade finita de músicas. Hoje há muito mais lançamentos. Como absorver tudo isso?
Não esquento muito a cabeça com isso. Tenho todo o espaço necessário na minha cabeça para guardar qualquer coisa referente aos três artistas mais importantes para mim – Stevie Wonder, Michael Jackson e Prince. E eu sou uma pessoa que ouve música praticamente cinco horas por dia. Se você pensar, é muito tempo. Entre a academia, o carro e ouvir em casa, eu provavelmente dedico cinco horas a isso. Eu só quero tornar o processo de produzir música mais divertido. Algumas pessoas vão até o limite, alguns DJs com os quais cresci deixaram de fazer música há muito tempo. Eu provavelmente faria o mesmo se não tivesse descoberto os stems (componentes de uma música separados digitalmente). Eles me deram um ânimo novo, porque consigo ter uma perspectiva nova sobre como se grava um disco.
"Eu não tenho o know-how ou o conhecimento para fazer um manifesto grandioso em três minutos e 30 segundos. Gostaria de ter esse talento. Mas consigo fazer esse manifesto em 70 minutos."
Você parecer ser o tipo de pessoa que não gosta de colaborar com uma música só. Quando alguém te contrata para trabalhar, você prefere colaborações mais abrangentes?
Eu não tenho o know-how ou o conhecimento para fazer um manifesto grandioso em três minutos e 30 segundos. Gostaria de ter esse talento. Mas consigo fazer esse manifesto em 70 minutos.
Quais os problemas em ser um especialista de música quando se tem acesso a toda a música disponível do mundo?
É impossível ter tempo para conhecer tudo, e eu não me desgasto para consumir música. Mas ainda preciso pensar no que vai acontecer com a minha coleção de discos quando morrer.
Um álbum ainda é uma forma viável de lançar música?
Desde a época em que o Late Night discutia se ainda fazia sentido lançar discos completos, o Roots fazia álbuns conceituais. Você sabe: nos filmes, quando os vilões percebem que acabou e que não tem saída, ou eles chutam o balde como em
Thelma e Louise, ou eles se rendem. Não há precedente para uma banda de rap a esta altura da carreira seguir no mesmo selo, lançando seu 16º disco. Eu sempre penso, “OK, este vai ser nosso último grande manifesto, e precisamos encerrar com um grande ponto de exclamação”. Se você não compete com o que está no topo, como Rihanna ou o que for, então talvez deva se concentrar apenas no que faz de melhor e... esperar a guilhotina cortar a sua cabeça. Daí você lança o álbum, a guilhotina não cai, você se acalma e começa tudo de novo!
www.theroots.com
*Entrevista gentilmente cedida à Soma pela revista The Red Bulletin.