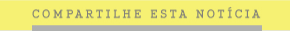
Só termina quando acaba, mas ô vaso ruim de quebrar que são os anos 90! Na segundona de feriado prolongado, mais um porrilhão de gente foi a Paulínia (67 mil, segundo a organização) para ver grupos como Ash, Sonic Youth, Alice In Chains, Faith No More, Stone Temple Pilots e enfrentar a LAMA. LAMA mesmo. Muita. E chuva. Choveu legal. Mas isso você já sabe – ou pouco se importa. A gente aposta mesmo é que você quer saber o que aconteceu nos palcos do último dia do SWU. A gente superou a lama e muito mais para te contar. Então se liga e confere o rolê abaixo:
Confira a cobertura do primeiro dia do SWU
Confira a cobertura do segundo dia do SWU
Ash
Com chuva e o escambau, valeu a pena chegar cedo ao último dia do SWU. Ao que tudo indica, mais pessoas pensaram o mesmo, porque às 16h o New Stage já estava ocupado por um bom público para ver o primeiro show do Ash no Brasil – muita gente já estava lá desde as 15h30, horário inicial programado. O Ash é uma banda às vezes mal compreendida: jogada no balaio indiscriminado do brit-pop, alguns deixam de entender o contexto exato em que o grupo nasceu. Para começar, o Ash é irlandês, e apesar do bom-mocismo e dos refrões grudentos que caracterizaram boa parte do gênero, o trio comandado por Tim Wheeler pertence a uma geração britânica fortemente influenciada por grupos americanos como Dinosaur Jr., Lemonheads e Pavement. Ao contrário dos colegas que resolveram baixar a cabeça (literalmente) e inventar o shoegaze, porém, o Ash traduziu as referências em uma chave mais punk. Adicione uma adolescência maturada pelo heavy metal – Wheeler disse ter realizado dois sonhos no SWU: “tocar no Brasil e tocar junto com o Megadeth” – e temos um dos shows mais barulhentos de uma banda saída da Irlanda pós-Bono Vox.
Sem enrolação, o Ash abriu com “Girl From Mars”, um dos hits de 1977 – disco de 1996 batizado em homenagem a Star Wars, o maior sucesso da banda até hoje. A guitarra de Wheeler e o baixo distorcido de Mark Hamilton (não confundir com Mark Hamill aka Luke Skywalker) revelaram de cara estar em grande sintonia, com peso e efeitos bem equalizados, produzindo uma massa sonora cada vez mais rara de se ver em bandas atuais com duas ou três guitarras, o que se dirá de trios. O público respondeu prontamente, arrancando sorrisos de satisfação da banda que durariam por todo o show. O setlist seguiu com “A Life Less Ordinary”, de 1997, e depois foi a 2001 com “Shinning Light” e “Walking Barefoot”. Wheeler, então, estava plenamente à vontade para exibir seu lado guitar hero, com direito a cromatizações que deixariam Dave Mustaine orgulhoso. O clima nublado e a garoa fina contribuíram para deixar o trio ainda mais em casa: o vocalista chegou a perguntar se teria vindo ao lugar certo, porque “parecia estar na Irlanda”. A slacker “Oh Yeah” voltou a 1996 e foi cantada em coro pelo público já na casa dos trinta. “Kung Fu”, “Orpheus” e uma versão estendida de “Return of the White Rabbit” completaram o setlist, preparando a cama para o bis catártico de “Burn Baby Burn”. Show de um trio muito bem afinado, que sabe tirar o som que quer dos instrumentos e que começa com um hit incendiário e termina com outro. O que mais os fãs poderiam pedir?
Down
Um pouco antes do show do Black Angels, fomos dar uma conferida no bate cabeça frenético dos caras do Down no palco Consciência. E, para quem achava que a banda iria tocar para um público vazio, na real o show foi um frenesi insano de metaleiros urrando pouco antes do show derradeiro do Sonic Youth, que rolaria no mesmo palco.
O ex-vocalista do Pantera, Phil Anselmo, começou o show soltando a música “Temptations Wings”, do primeiro disco do Down, NOLA, de 1995. Logo no meio da canção a testa do vocalista já estava sangrando, de tanto que Anselmo bateu o microfone na cabeça. As guitarras de alta tonelagem do grupo e a bateria de Jimmy Bower, em um som bem equalizado, conseguiram até mesmo trazer uma galera extra para o show, conquistando o público que passava para assistir apresentações de outros grupos.
Uma pequena multidão se aglomerava na grade do palco para berrar em músicas como “Lifer”, “Loosing Hall”, “Eye”, “Stone the Crown”, “Hail The Leaf” (provavelmente a ode à maconha mais raivosa que já ouvimos na vida) e “Bury Me In Smoke”, que teve a participação de Duff McKagan, que havia tocado no mesmo palco pouco antes do Down. Após encontrar na plateia um fã com o nome do Pantera tatuado no peito, Anselmo aplaudiu e soltou um trechinho de “Walk”, aproveitando para afirmar que "o Brasil é uma puta plateia e não vamos demorar para voltar a vê-los".
Black Angels
Por sugestão de um amigo, voltamos ao New Stage às 18h para conferir o Black Angels e não nos decepcionamos. Pelo contrário, vimos um dos melhores shows dos três dias de SWU (sorte nossa termos bons amigos). O quinteto texano (de Austin) subiu no palco em ritmo desencanado, com os próprios músicos passando o som ali mesmo, quando já corria o tempo previsto para o início da apresentação. O que poderia passar uma impressão de descaso se mostrou parte da vibe do grupo assim que o som começou: acompanhado pelo ritmo arrastado e firme da baterista Stephanie Bailey (uma espécie de fusão entre Maureen Tucker e Nico), o guitarrista Christian Bland foi abrindo os acordes de sua Rickenbacker semi-acústica com o som garageiro-psicodélico característico da banda e de outros membros da “família Black” como Black Mountain e Black Keys. Porém, ao contrário dos outros dois, a guitarra de Bailey produz um som notavelmente diluído, mais para Jason Pierce (Spiritualized) do que Stephen McBean (Black Mountain), que ganha ainda mais contexto quando acompanhado pelos efeitos de teclado e pedais do frontman Alex Maas. As projeções de filmes antigos (à Sam Peckinpah) no fundo do palco davam um clima ainda mais chapado à performance, que a essa altura já acumulava inúmeras camadas de som e drone e ecoava pelo descampado de Paulínia, levando os mais sugestivos a olharem com outros olhos o pasto que dominava a paisagem do outro lado da cerca. O relógio já passava das 19h e saímos para o show do Sonic Youth sem ver principal música de trabalho do grupo, “Haunting at 1300 McKinley”, mas no contexto – mais “atmosférico” do que voltado a canções – supomos que isso teria feito pouca diferença.
Sonic Youth
Já no segundo quarto de sua apresentação no SWU, Thuston Moore se aproxima do microfone para conversar com a plateia. “Nós somos o Sonic Youth, da cidade de Nova York”, anunciou com a voz embriagada, estendendo os cumprimentos aos “irmãos e irmãs do Brasil”. O possível show de despedida do quinteto norte-americano – a especulação sobre o fim do grupo continua, sem nenhuma resposta oficial por parte da banda – teve uma aura singular de estranhamento, autoalienação e, contraditoriamente, muito amor.
O Sonic Youth é uma prova viva do “poder do grunge” no Brasil. Sem as associações com o gênero (via Goo, Dirty, The Year Punk Broke, etc.) é difícil imaginar que um som tão “estranho”, cheio de dissonâncias e sem refrões, encontraria tamanho eco no país. Mas ainda assim, havia pelo menos 30 mil pessoas (não à toa, foi o momento escolhido para o “onde está o Wally indie” do G1) testemunhando sob uma interminável chuva a demolição em câmera lenta dos limites sônicos da ortodoxia roqueira, num microcosmo do trabalho promovido consistentemente em 30 anos de carreira.
Abrindo com “Brave Men Run”, do álbum Bad Moon Rising, o grupo seguiu com um setlist com variações temporais enormes – de “Death Valley ‘69”, de 85, para “Sacred Trickster”, de 2009; de “Calming The Snake”, de 09, para “Mote”, de 91 – e repleto de hits cultuados, como “Schizophrenia”, “Drunken Butterfly” e “Sugar Kane”. Num sexy vestido vermelho, Kim Gordon fica meio distante, cool, sem muito contato visual com os colegas. Apesar do cansaço e da distância que às vezes surge entre os integrantes, há uma fisicalidade inescapável na música produzida pelo Sonic Youth que torna praticamente impossível uma “performance burocrática". A entrega é praticamente obrigatória, e a tensão entre a tristeza da despedida e o desprendimento criado pela música quase solta faíscas num show único – e final.
Antes do fim, Moore volta ao microfone – bizarramente mais sóbrio – para o adeus: “obrigado por terem ficado até aqui. Vocês são pessoas lindas e incríveis, e eu espero ver todos vocês novamente”. O fã pode ouvir o que quiser – “o Sonic Youth não vai acabar”, “O Thurston vai fazer um show solo no Brasil” – mas o recado de verdade é musica, com “Teen Age Riot”: “Estamos caindo pras ruas/ De volta à estrada/ Na trilha da revolta”, encerra a faixa, terminando tudo numa cacofonia de guitarras e baixos feridos, abusados, torcidos, cruzados, e com Moore sentado de pernas cruzadas olhando para a plateia, intrigado.
Primus
Assim que o Sonic Youth tocou o último feedback de “Teen Age Riot” no palco Consciência, já se ouviu do outro lado, no palco Energia, a indefectível guitarra-sirene de “Those Damned Blue-Collar Tweekers”. A faixa, do clássico Sailing the Seas of Cheese, de 1991, fez os fãs da banda que ainda esperavam o bis do SY correrem os quase 200 metros que separavam os dois palcos – uma peça digna do humor demente de Les Claypool. E demência, em vários níveis, dinâmicas, texturas e mídias diferentes, foi o que deu o tom na pouco mais de uma hora de show do trio, cria bastarda de Residents, Frank Zappa e Rush. “Pudding Time” (do também clássico Frizzle Fry, de 1990) veio em seguida, colocando o público para pular com seu suíngue torto e o slap pesado que consagrou o baixista como um dos grandes do rock.
O clima ficou mais sombrio e psicodélico com a entrada de “Eyes of the Squirrel”, do último disco do grupo, o mediano Green Naugahyde (2011), que começa com um solo de baixo ao maior estilo Roger Waters, com gráficos projetados ao fundo que interagiam com o instrumento. Ao final, Claypool finalmente saudou a plateia e apresentou os colegas de banda: o guitarrista Larry LaLonde, que está com ele desde 1989, e Jay Lane, membro da banda entre 1988-9 e reintegrado em 2010, após Tim “Herb” Alexander ter deixado o grupo pela segunda vez. “O sr. Larry é muito legal, mas é meio quieto”, disse Claypool com sua voz caricata, “só fala quando enche muito a cara.” Em seguida, anunciou um “som bastante obscuro, um lado b bem pouco conhecido”, introduzindo nada menos do que “Winona’s Big Brown Beaver”, do disco Tales From the Punchbowl (1995), aclamada com entusiasmo pelos fãs. O riff angular da guitarra foi cantado em coro, enquanto ao fundo cenas de castores, entecortadas em ritmo frenético, embalavam a letra sobre o folclórico apetite sexual de Winona Ryder (beaver, em inglês, tem duplo sentido: remete tanto ao roedor workaholic como à genitália feminina).
Depois do clássico, porém, o show retomou um clima mais introspectivo, com o interlúdio formado pelas também novas “Jilly’s On Smack” e “Lee Van Cleef” (de Green Naugahyde) e “Over The Falls” (do Brown Album). Apesar de mostrarem a versatilidade de Claypool, que trouxe para o palco um baixo de arco, as músicas desanimaram os fãs que aguardaram 20 anos para ouvir hits como “Tommy the Cat”, “Jerry Was a Racecar Driver” e “John the Fisherman”. As duas últimas até foram tocadas, mas a escolha por um repertório novo em um país que nunca tinha visto o show do grupo, além de alienar os fãs de carteirinha, evidenciou a diferença de qualidade entre o material atual e o antigo. Não estragou o show, mas ponto para Alice in Chains e Stone Temple Pilots, que assumiram a condição de revival e tocaram só o que o público queria ouvir, e para o Faith no More, mais bem sucedido em se reinventar ao longo dos anos.
Megadeth
Tem várias coisas pelas quais pode ser importante passar na vida, e gostar de metal é uma delas. Mas isso não quer dizer que você tem que fazer a mesma coisa a vida inteira. É claro que pode ir num show do Metallica com os seus amigos do colegial, ouvir um Slayer quando estiver bravo com o chefe, a namorada e o resto do mundo, e até assistir o That Metal Show no VH1. Mas ir voluntariamente a um show do Megadeth é quase masoquismo. Há um componente de badtrip, de alcoolismo perverso e de ressentimento perene no trabalho de Dave Mustaine que nunca deixa de macular a sua performance. É claro que há um séquito fiel para isso tudo, mas sucessos como “Symphony of Destruction” e “Holy Wars” só conseguem amplificar esse sentimento de deslocamento. Mas cada um gosta do que quer, e se existe espaço no mundo para os juggalos, certamente existe espaço para o Megadeth.
Crystal Castles
Crystal Castles: quem viu, viu, quem não viu é velho Foto: Bianca Tatamiya / Divulgação
Numa noite em que olhar para trás era a regra, com uma escalação fundamentada na nostalgia pelos anos 90, uma atração como o Crystal Castles parece uma miragem. Com os dois pés numa noisetronica futurista que fez escola na segunda metade dos 00, o duo de Montreal fez uma apresentação intensa, longe dos olhos da grande imprensa (o show não foi transmitido pela TV, e é difícil encontrar alguma resenha ou foto dele) mas perto demais dos fãs do Simple Plan. Apesar da média de idade baixa na plateia e do pouco tempo de show, incluindo uma passagem de som mais demorada que de costume, o grupo conseguiu contornar qualquer dificuldade numa performance intensa. Enquanto Ethan Kath programava linhas sinuosas de synth e o baterista de turnê Christopher Chartrand descia a mão no batidão, a espevitada minigótica Alice Glass se atirava em todos os lugares que podia, dando mosh na plateia, pulando sem parar e cantando sob um manto pesado de efeitos, nos melhores vocais processados de todo o festival (mal aê, Kanye). E pensar que tinha gente ali na grade que só queria saber do Simple Plan.
Stone Temple Pilots
A esta altura da vida, faz de pouco a nenhum sentido entrar numa discussão do tipo “grunge, essa superficialização comercialista do ideal punk” (a menos que você seja um estudante do segundo ano de filosofia que ainda acha Adorno o máximo, mas não se preocupe que isso passa). Todo mundo sabe (ou deveria saber) que o Stone Temple Pilots se lançou como uma opção milimetricamente posicionada entre Nirvana e Pearl Jam. Que o vocal e o visual de Scott Weiland no primeiro disco emulavam Eddie Vedder, Kurt Cobain e Layne Staley em um nível constrangedor. Que os riffs da banda são barangos, que as letras do começo eram um amontoado de clichês-para-pegar-bobo-da-Geração-X (se você é da Geração Y, talvez não saiba do que eu estou falando, então lê isso daqui e depois, como você está bem acostumado, aja como se já soubesse de tudo). Que o próprio nome da banda nasceu de um logo de marca de óleo de motor de carro (isso, este aqui mesmo, o que por si só é algo, tipo, “hã?!”. Nem o fato de que a história da banda teria começado num show do Black Flag muda isso. Portanto, este review não tem intenção nenhuma de convencer incrédulos. É um review para fãs.
Esses, por sua vez, não têm dúvida sobre por que adoram tanto o STP, com ou sem óleo, com ou sem Black Flag: Scott Weiland e os irmãos DeLeo (Dean, guitarrista, e Robert, baixista) estão entre os maiores criadores de hits dos anos 1990 (Purple, segundo disco do quarteto, liderou a lista da Billboard por 3 semanas e teve 4 singles entre os top 10), e, depois do começo pastiche, Weiland evoluiu para ser sua própria versão cracolândia de um David Bowie ou um Mick Jagger; Dean, ainda, é o guitarrista de rock com mais recursos de sua geração, e provavelmente quem melhor domina uma Les Paul dentre todos os seguidores de Jimmy Page (por sinal, outro barango genial). Weiland ainda fez muita merda depois, a maior delas montar o Velvet Revolver. Era para estar morto por overdose há muito tempo. Por isso, não deixa de ser assustador que ele tenha se exibido em tão grande forma no palco do SWU na noite da segunda 14.
Quando DeLeo tocou os primeiros acordes de “Crackerman” (de Core, disco de estreia da banda, de 1992), Weiland entrou no palco com passos firmes, usando um terno bem alinhado (o desgraçado sabe ter estilo quando quer) e óculos escuros. Ainda assim, sua performance é sempre uma incógnita. Mas a dúvida foi imediatamente desfeita quando a voz dele começou a ecoar pelo PA, e dali para a arena que reunia uma multidão de perder de vista. O andamento da música, mais lento do que no disco, logo se mostrou uma escolha consciente, adotada para o show inteiro. Se a decisão foi estética – é inegável que algumas músicas, como “Silvergun Superman” funcionaram bem assim – ou força da idade – o que seria compreensível, afinal nenhum dos quatro exibe a forma , o que se dirá –, isso não influenciou muito na qualidade da execução ou no ânimo do público.
O setlist foi parecido com o do show de 2010 na Via Funchal, mas mais conservador – só incluiu uma música do último disco do grupo homônimo, do ano passado. Obviamente, ninguém reclamou disso, porque todo mundo estava ali pelo mesmo motivo: reviver por algumas horas a própria adolescência nos anos 1990, ou viver a juventude nos 2010 como se fosse uma adolescência imaginada nos 1990 (Freud, acode aqui). Por isso, todos puderam balançar felizes o pescocinho grunge em faixas pesadas como “Wicked Garden” e “Sex Type Thing”, dançar com Weiland em “Big Bang Baby” (ao melhor estilo STP roubamos-de-Jumping-Jack-Flash-sim-e-daí) e soltar o gogó em clássicos como “Vasoline”, “Big Empty”, “Interstate Love Song” e, naturalmente, o hit máximo de fogueira de faculdade “Plush”. Os mais atentos ainda puderam reparar em detalhes como o timbre inconfundível e a pegada pesada e redonda do baterista Eric Kretz, ou os acordes de Dean DeLeo, que realmente executa as frases intricadas dos discos sozinho, unindo base e solos como se fosse dois guitarristas em um. Registros de uma época em que os instrumentistas e os fãs ainda se importavam com bobeiras românticas como REALMENTE saber tirar som de um instrumento e gravar guitarras em um disco sem overdubs. No final, “Trippin’ On a Hole In a Paper Heart” encerrou em clima épico um show que, se não existisse, seria inventado pelos fãs.
Alice in Chains
Aviso: antes de ler este texto, leia a última frase do primeiro parágrafo do review do show do Stone Temple Pilots acima. Esta análise segue o mesmo princípio da anterior.
Leu? Ok.
O show do Alice in Chains provou ser o que mais atraiu público entre os que vimos no SWU, superando outros sucessos de audiência como Snoop e Faith no More (como você já sabe, não vimos o Black Eyed Peas). Logo após o final do STP, uma massa imensa de pessoas atravessou com pressa para o outro lado, se juntando à outra massa que já aguardava posicionada na frente do palco Consciência e a um terceiro fluxo, vindo do New Stage, que tinha acabado de ser encerrado. Como resultado, a pista lotou completamente em poucos minutos, levando muitos fãs a terem que se contentar em ver a banda de muito longe ou da arquibancada. Para piorar, a chuva que caiu o dia todo e a lama trazida das áreas não asfaltadas do recinto tinham formado grandes poças na pista, que chegavam a alcançar o tornozelo das pessoas.
Felizmente, o grupo de Seattle não enrolou para começar e logo o aperto e o desconforto se tornaram meros detalhes. O que veio na sequência foram duas horas e meia de um imenso culto coletivo, com coros entoados de olhos fechados e fiéis se ajoelhando e fazendo sinal da cruz no chão a São Layne Staley (sério, vimos um cara literalmente fazendo isso VÁRIAS VEZES no meio de uma poça d’água, no melhor estilo into the flood again). Os ministros da fé, por sua parte, fizeram por merecer: o trio remanescente da morte de Staley (por overdose, em 2002, pesando apenas 39 quilos) toca hoje talvez melhor do que nunca, e o vocalista substituto, William DuVall, canta incrivelmente bem e ainda se vira com desenvoltura na guitarra (é praticamente o Lenny Kravitz que deu certo). A guitarra de Jerry Cantrell e o baixo de Mike Inez abriram com peso impressionante o riff de “Them Bones”, dominando com folga uma noite que até ali já tinha sido tudo menos leve. Depois vieram “Dam That River” e “Rain When I Die”, que completam a ordem exata de abertura de Dirt, de 1992, o maior sucesso da discografia do grupo. “Again”, de Alice in Chains (1995) e “It Ain’t Like That” (Facelift, 1990) diminuíram a levada para a velocidade sludge, evidenciando até ali o grande trunfo da banda, musicalmente falando: transfigurar o hard rock e o speed metal em uma entidade moribunda e modorrenta, na tradição do Melvins, mas com refrões de estádio irresistíveis e vocais com harmonias extremamente originais. Cantrell e Staley foram como Simon e Garfunkel em rotação ultra-lenta, com 40 graus de febre, e essa dualidade está preservada com DuVall, ao menos ao vivo.
“Your Decision”, do único álbum lançado com DuVall até agora (Black Gives Way to Blue, em 2009), soa como uma composição clássica de Cantrell da época de Jar of Flies e inaugurou o primeiro interlúdio acústico do show, completado por “Got Me Wrong”. O peso voltou com “We Die Young”, que abre Facelift e “Last of My Kind”, do último disco, em uma fusão que valorizou a faixa do disco novo, em geral bom de riffs mas fraco de refrões (apesar de excelente vocalista, DuVall não chega perto de ser o compositor que Staley foi). “Down in a Hole” e a quase country “Nutshell”, de Jar of Flies, uma das melhores letras de Staley, trouxeram o show de novo a um estado mais contemplativo, com o público fazendo o coro em peso, num dos momentos de maior comoção no show. Jerry dedicou a música a Staley e Mike Starr, baixista original da banda, substituído em 1993 por Mike Inez, e morto no começo de 2011. “Hoje é um novo dia, mas nunca nos esqueceremos de onde viemos”, ele disse, sob muitos aplausos. A também sludge “Acid Bubble”, do novo álbum, inaugurou a sequência final do show, com “Angry Chair” e “Man in the Box”.
No bis, a banda surpreendeu os fãs com “Rooster”, uma das músicas mais bonitas da sua discografia, com DuVall exibindo grande segurança no alcance vocal, e “No Excuses”, um dos arranjos acústicos mais ricos de Jar of Flies. Visivalmente comovido com a resposta dos brasileiros, DuVall disse que “aquela era a melhor plateia para a qual eles já haviam tocado” – Brasil, essa nação onde o metal farofa nunca morrerá – e em seguida Inez puxou o baixo de “Would?”, o gran finale de um setlist dos sonhos de qualquer fã.
Ainda hoje é controverso dizer exatamente o quanto do grunge foi fenômeno orgânico e o quanto foi pura caracterização forçada pela indústria do disco. Seja como for, nenhuma banda personifica melhor esse conceito, em suas virtudes e contradições, do que o Alice in Chains. Na noite de segunda eles mostraram que ainda se lembram muito bem disso.
Faith No More
Mike Patton: português macarrônico Foto: Willian Aguiar / Divulgação
Como um Zé Pilintra do funk-o-metal, Mike Patton entrou todo de branco, complementado por chapéu e bengala, para a derradeira apresentação do SWU. Quem ainda resistia – e era bastante gente – já havia desencanado da chuva, enquanto Mr. Patton conversava durante toda a apresentação com a plateia num português macarrônico (o rapaz tem ex-mulher italiana, capisce?) e até mesmo arriscava uma canção sua inteira vertida à última flor do Lácio. Com um pouco de esforço, até dava para entender que o refrão de “Evidence” virou “eu não senti ‘nadá’/ Não teve significado algum”.
Homem de mil faces, Patton detém o mesmo charme de um Johnny Depp, indo da emoção cafajeste da cover de “Easy” à loucura pesada de “Surprise! You´re Dead!” em segundos, sem cansar ou assustar a voz. Essa facilidade vocal, aliada ao carisma natural, fez com que o cantor sequestrasse os holofotes para si ainda no início dos anos 90, mesmo tendo entrado para o grupo após dois álbuns. Hoje seria impossível pensar na segunda vinda do FNM sem a presença de Patton. É claro que o resto da banda ajuda bastante, com um repertório de execução impecável – até o pianinho no final de “Epic” está presente.
É estranho reouvir o FNM deslocado de seu ambiente “natural” aka anos 90. Não é que o som soe datado, mas de alguma forma parece que é alguém tentando reinventar o infame nu metal de uma forma que soe menos constrangedora e mais propositiva. E é então que você se toca de que todas as bandas pesadas mainstream do final dos 90 e começo dos 00 roubaram as ideias que podiam do Angel Dust, e tudo começa a fazer menos sentido: por que fazer algo PIOR do que já foi feito?
Não vai ser o Faith No More que vai explicar essa inconsistência da realidade objetiva, mas há algo de intrigante na imunidade da banda em parecer muito baranga – os clipes do grupo sempre vão ser menos constrangedores que os dos outros grupos da época, por exemplo, apesar dos figurinos terríveis da era The Real Thing. Da mesma maneira, essa volta caça-níqueis parece até um golpe razoável, da mesma maneira que estamos acostumados a esperar uma banda se despedir e voltar para o bis ao fim de um show. E o bis do Faith No More parece apontar para os estúdios, com uma faixa inédita lá no final da apresentação. Esperança é coisa que fã sempre tem de sobra, e se arrastando na lama de volta para casa, sob um festival desnecessário de fogos de artifício patrocinado pela organização do SWU, talvez dê para sonhar por mais de uma noite que o mundo pertence aos anos 90 e que a sua banda favorita lance um CD (!) novo.