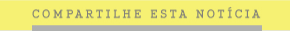
No universo da música independente não é difícil encontrar músicos que também buscaram no desenho e nas artes plásticas uma forma complementar de expressão. Na São Paulo da segunda metade da década de 1990, a mesma cena hardcore que revelou bandas como Tube Screamers, Againe, Auto, No Violence, Delmar e Garage Fuzz também foi berço de artistas como Carlos Dias, Carlos Issa, Silvana Mello, Tomás Spicolli e Alexandre “Farofa” Cruz. Este último, quando começou levar a arte mais a sério e passou a bombardear as ruas com pôsteres e stickers, adotou o pseudônimo Sesper (“Farofa não
funcionava, né mano...? Porra, puta apelido escroto!”).
Visitamos seu ateliê alguns dias após o show de sua banda, o Garage Fuzz, no Lollapalooza Brasil. Desta vez, porém, o foco da conversa foi outro – já havíamos falado com ele e o Garage na edição 19 (set/out 2010). Em pouco mais de uma hora de conversa, o papo foi de death metal a Romero Britto, passando por concursos públicos, depressão e remédios tarja-preta.
Na segunda metade da década de 90, comecei a perceber o nascimento de uma cena de arte jovem, que girava em torno de algumas bandas do hardcore paulistano da minha geração. Foi nessa época que conheci a arte de caras como você, Carlos Dias, Tomás Spicolli e Cacá Issa. Todos tocavam em alguma banda, mas já pareciam levar a arte mais a sério, mesmo que inicialmente apenas para pôsteres de shows, flyers, camisetas e artes dos discos. Um tempinho depois começaram a rolar aquelas exposições Draga, no Oitava DP . Você chegou a expor por lá?
Não. Eu era brother do Carlinhos, achava animais os desenhos das capinhas do Tube Screamers, as coisas do Againe. Mas naquela época, na nossa turma, se assumir como artista era complicado. Você era tirado, a gente não se entrosava com aquela galerinha da FAAP... Dessa turma, eu fui um dos últimos a abraçar essa história de fazer arte. Eu via o Tomás [Spicolli], quando ele veio da argentina com a turnê do Delmar... Ele começou a desenhar junto com a gente, na casa do Carlinhos na Matias Aires. Eu via o Cacá [Issa] produzindo com Letraset, já influenciado por umas coisas tipo Suicide, ficava ouvindo No Wave, umas barulheiras e fazendo umas artes mais experimentais... E depois acho que viver com o Carlinhos foi o começo de arte mesmo pra mim. A gente não tinha nada no apartamento e ficava desenhando, isso foi em 97. Eu lembro das colagens que a Silvana [Mello] fazia, de skate. Aquilo com certeza foi uma influência, a forma livre com que o Carlinhos desenhava, o Tomás pelos elementos que ele usava, o Carlos Issa mais pela forma como ele usava a Letraset, a sujeira mesmo, então todos esses caras me influenciaram em algum momento.
"Naquela época, na nossa turma, se assumir como artista era complicado. Você era tirado, a gente não se entrosava com aquela galerinha da FAAP. Dessa turma, eu fui um dos últimos a abraçar essa história de fazer arte.”
Eu lembro que o Tomás já tinha muito disso, de pegar as coisas na rua, de reciclar. Lembro de ir nesse apartamento que você comentou e ouvir ele falar sobre como lidava com a coisa – que usava o que estivesse ao seu alcance, que se não tivesse tinta branca usava Hipoglós. Lembro que o sonho dele era ter uma caminhonete, pra poder carregar tudo o que encontrava na rua...
Naquela época, em 97, se alguém dissesse “daqui a uns anos vocês vão vender quadro por 30 mil reais” a gente ia dar risada na cara. Quem nessa época ia dizer que o Carlinhos um dia teria um andar inteiro no MASP? Eram coisas que nem fudendo a gente pensava, saca? Vender um desenho para a [marca de skate] Drop Dead naquela época já era uma glória, tipo, nossa, saiu uma camiseta com um desenho meu na Child [outra marca de skate]!
Eu me lembro de uma exposição de desenhos do Carlinhos na Torre [do Dr. Zero, antiga casa de shows de SP]. No final ele chegou pra mim, perguntou se eu tinha curtido, me deu um desenho e deu para mais algumas pessoas... Era um lance muito tranquilo, não tinha valor comercial, o grande barato era mostrar aquilo para os outros.
Foi isso que fez a parada ser original. Não rolava aquela pressão e criar pensando “eu tenho que vender”. Tudo era experiência. Acho que essa fase foi crucial pra formação de muita gente. Na época eu fiz um zine chamado Introduct, onde eu botava a arte dessa galera. Tinha o Tomás, o Carlinhos, a Silvana. Era um grupo de pessoas da mesma idade, consumindo o mesmo lance, só que de forma isolada. Em algum momento, todo mundo se juntou e percebeu que estava rolando alguma coisa ali.
Dá até para fazer um paralelo com o Beautiful Losers, não acha?
Total, com certeza! Eu sou um cara que sempre absorveu muita coisa, mas que às vezes demorou para usar essa informação. Em 86 eu comecei a andar de skate em Santos e o MZK era meu vizinho, a avó dele morava há duas quadras da minha casa. Nessa época ele já tinha bateria, fazia um som, já fazia pôster. Eu lembro de ir na casa da avó dele, ver aquele monte de pôster e pensar “cara, que foda isso!” Ele fazia na época o Tattoo Comix, que era um puta zine fudido na época, que todo mundo se matava pra ter... Eu acho que o MZK foi o primeiro artista que eu vi, com essa pegada mais urbana. O segundo foi o Rubinho, que é um brother meu de Santos que fazia arquitetura, pirava em squat, tinha um monte de discos, nessa época já ouvi Hüsker Dü, New Model Army... Isso no final dos anos 80. E outro cara que me deu essa primeira referência de colagem foi o Paulo, um espanhol. Ele foi o primeiro que chegou pra mim e falou “vamos expor?”, bem antes dessa galera aparecer na minha vida – isso foi em 93, 94. A gente ia com o portfólio em umas galerias e os caras falavam “cai fora, vocês são loucos, não tem a menor chance disso acontecer”. Esse cara na época já tinha todas as referências de processos e técnicas, mas eu tava em outra, tava na música. Pra eu começar a desenhar, o tapa na cara foi o Rich Jacobs, que era quem fazia as capas do Iceburn. Nessa época eu tava pirando nessas bandas da Revelation Records e comprei o Poetry of Fire, que tinha um desenho dele. Pensei “eu consigo fazer isso”, e foi aí que eu comecei a fazer o Juca (personagem que Sesper desenhou muito no começo da carreira).
Depois disso vieram os teus lambe-lambes, que eram na maioria colagens e ilustrações manipuladas digitalmente. Tinha todo um lance de repetição, que o Shepard Fairey já fazia muito na época.
Nessa época ainda tinha a Starmedia, eu tinha o blog do Introduct e cheguei até a entrar em contato com ele. Porque o único blog que rolava desse tipo de arte na época lá era o Art Crimes, que eu acompanhava. Vi o Shepard começando essa história do Obey e, como eu tinha assistido o filme They Live, pensei “mano, esse cara tá copiando o They Live”. Cheguei até a trocar umas mensagens com ele sobre isso, e ele me disse “cara, você matou a charada”. Então nessa época eu tive muita influência do Shepard, do Dave Kinsey. Quando eu vi os pôsteres do Obey pela primeira vez, foi muito marcante e foi quando eu comecei a fazer os meus, ainda em xerox A4 e A3. Depois, quando fui pra Porto Alegre, descobri um lugar que fazia uns pôsteres por um real com duas cores, em offset. Foi aí que a coisa começou a ficar mais semelhante ao que os caras já estavam fazendo na gringa.
Já essa tua onda de colagem e pintura em técnica mista é algo um pouco mais recente, de uns 4, 5 anos pra cá. O que te motivou a entrar nisso?
A real é que eu estava desencanando, já tinha duas filhas, andava meio desanimado. Já tava pensando em trabalhar em banco, tirar as tatuagens, tentar fazer um concurso da Caixa (risos). Aí o William [Baglione] chegou pra mim em 2007 e me disse que eu tinha muito potencial, que só precisava aprender a utilizar todas essas referências. Eu fiquei batendo cabeça, pensando no que ia fazer, até que, em novembro de 2007, a Rebecca (uma das filhas de Sesper), que já estava na primeira série, começou a fazer umas colagens na minha frente. Foi aí que caiu a ficha: “é isso, vou voltar a fazer colagem!” Porque eu já vinha colando sticker e pôster na rua, e eu já fazia colagens nos anos 80, fanzine, cartazes de show... Peguei um final de semana, me tranquei e de lá saíram os primeiros trabalhos nessa linha – que inclusive foram publicados naquela matéria que vocês fizeram (edição 4, mar/abr 2008). E aí teve a primeira exposição dessa fase, a Brasileiros, na Carmichael Gallery em Los Angeles. Eu fui o último a entrar e vendi tudo, então continuei produzindo. Me convidaram para uma individual em fevereiro de 2009, mas já era outro momento, a crise pegando, e já não vendeu. Pensei, “ok, já que não é para vender mesmo, então posso fazer o que der na telha”. Foi aí que meu trabalho começou a ficar mais pesado, minhas referências passaram a ser as coisas da Earache (gravadora britânica especializada em grindcore e death metal), as capas do Terrorizer, do Napalm Death. Foi meio que um caminho sem volta.
Fala um pouco sobre a sua rotina de produção. Você parece ter um ritmo de produção bem intenso para quem também é envolvido com tantas outras coisas, como o Garage [Fuzz], seu trabalho com vídeos, ser casado, pai de duas garotas...
Eu me policio para vir aqui [no ateliê] todo dia, das 8 da manhã até umas 7 da noite. Eu posso vir e não fazer porra nenhuma, mas eu tô aqui dentro, a cabeça focada nisso. Eu sempre fui um cara hiperativo, tomava remédio para abaixar a onda e acho que a arte foi onde eu consegui extravasar essa energia. Muito do que eu fazia nem era pensado, era bem instintivo mesmo. Mas hoje sinto que estou chegando ao fim desse ciclo, talvez porque vou fazer 39 anos. Eu tive essa fase, que foi muito porrada, de retratar nego enforcado, morte, armas, Jesus de quatro com o Diabo comendo ele... Não que hoje eu vá fazer uma arte mais contida, mas quero explorar outras partes do meu trabalho: mudar o suporte da colagem, desenvolver mais a técnica, texturas, partir pra algo menos figurativo e mais abstrato. Eu cheguei a produzir vários trabalhos em uma semana e isso é algo que eu não consigo mais fazer, era uma entrega muito grande, de colocar pra fora mesmo tudo que eu estava sentindo.
Em 2010, quando rolou a história de ter o meu primeiro ateliê – que na verdade era uma casa abandonada em frente à minha que eu usava pra produzir minhas coisas –, teve um momento em que eu estava sem energia, sem saber pra onde ir, e pensei “eu preciso de uma pessoa, careta, do meu lado, que seja o meu oposto”. Foi quando apareceu a Mila (assistente do artista até hoje), e a gente começou a trabalhar nesse espaço. A primeira missão dela era decupar todo o meu acervo, ela ficou uns 6 meses nisso. A produção ficou mais organizada, eu sabia onde estavam as cabeças, as texturas, as letras e isso abriu um novo leque de possibilidades. No início eu fui até segurando, mantendo ainda a coisa do instintivo, do visceral, da raiva, até esses últimos trabalhos que estão indo pra SP Arte deste ano. Mas acho que agora, nesse processo novo, essa coisa da organização vai ser muito mais presente e importante, a preocupação maior com a técnica, com o acabamento.
Suas obras geralmente têm inúmeras camadas e sobreposições, que vão do uso tradicional de papel, cola e tinta, até o uso de sucatas eletrônicas, como máquinas fotográficas digitais, cameras de vídeo ou celulares. O que te faz olhar para uma obra e dizer “essa tá pronta, bora para a próxima”?
Não dá pra saber. Eu não paro nunca, isso que é foda. Pra mim, meu trabalho está sempre inacabado. Esses aqui (mostra algumas obras que estão no ateliê, produzidas em 2008) são trabalhos que foram muito importantes – pela linguagem, pela textura, foi aí que comecei a usar grampos. Deles, saíram um monte de outras coisas, como prints, camisetas, cases de iPhone, vídeo. Agora que eu trouxe eles de volta pra reformar, não mexi em absolutamente nada, só estamos reformando parte da estrutura. Mas coisas que estou produzindo agora, mais recentes, se não colocar uma moldura e um vidro na frente eu vou ficar mexendo até o fim. Este aqui (mostra um trabalho recente encostado na parede) era um trabalho que eu considerava finalizado, mas olhei pra ele outro dia e já vou integrá-lo em algo maior. Se eu vou no acervo da galeria e vejo alguma coisa minha, tenho vontade de trazer pra cá, meter uma serra, incorporar em algo novo. Eu nunca enxergo o meu trabalho como “fiz uma obra prima, caralho, eu sou foda!”. E eu acho que meu próximo ciclo tem que preservar essa espontaneidade da textura, da base, e depois entrar com um pensamento mais estruturado, organizado. Porque eu sempre fazia meus trabalhos na vertical, então a colagem nesse esquema acaba tendo que ser mais espontânea mesmo, você tem que colar logo porque senão cai. Agora, pretendo começar a produzir os quadros deitados, diagramar mais antes de sair colando.
Então agora você está buscando um pouco mais de estrutura de pensamento, conceitualizar mais?
Total, os meus quadros de 2009 até recentemente eram muito do que eu estava sentindo. Se eu estava deprê saía um bagulho exu mesmo, se eu estava feliz saía uma coisa mais alegre. Agora eu acho que é hora de explorar mais a técnica, mesmo. É um desafio, porque é um vício, você entra no automático e hoje em dia eu reconheço elementos no meu trabalho que eu quero manter, mas quero incorporar novas técnicas e dedicar mais tempo a cada trabalho.
“Eu nunca consegui repetir uma fórmula, pensando ‘ah, vendeu, faz mais 10 nesse estilo’. Você tá louco, nem fodendo.”
Sei que você sempre teve uma certa dose de compulsão por guardar coisas. Você se considera mais um colecionador ou um acumulador mesmo, tipo os irmãos Collyer ou aquelas americanas psico que você vê no Discovery Channel, que mal conseguem andar na própria casa de tanta coisa que acumularam ao longo dos anos?
Sou um acumulador doente, com certeza! A minha mulher fala que nesses programas sou eu numa etapa inicial (risos). Hoje de manhã eu saí e peguei isso na rua (mostra uma plaquinha de metal com números), vou andando e catando tudo que eu vejo pela frente. Até amigos já me trazem coisas, o [Flavio] Samelo me traz todo mês umas duas caixas cheias de tranqueiras. Outros amigos sempre acabam me trazendo elementos podem ser incorporados ao meu trabalho. A produção que eu estou pra começar agora é baseada naquilo ali, ó (aponta para uma pilha de rolos de pôsteres que remete às aulas de biologia do ginásio), que encontrei jogado na frente de uma escola judaica, voltando pra casa numa sexta à noite. Ao mesmo tempo, já peguei uma capa original do Slip it In do Black Flag e colei num trabalho que não era nada especial. Eu não tenho um apego real por essascoisas, do mesmo jeito que vem, vai embora. Quando eu tive pânico e depressão em 2006, vivia num mundo que eu tinha as minhas rodinhas Rat Bones guardadas, de quando eu andava [de skate] em 86. Tudo isso ficava me remetendo a uma época que não ia mais voltar… Teve um dia que eu cheguei em casa, enfiei um monte de coisa num saco de lixo e simplesmente joguei fora. Hoje em dia eu tenho uns 400 discos, mas sei que qualquer hora vou encher o saco e vender tudo. Não tenho mais o mesmo apego que eu tinha antigamente. Mas acho que o que ainda rola é um saudosismo, de momentos da vida que me marcaram. Essas coisas ficam me martelando, saca? Fico querendo que as coisas voltem a ser como eram. Eu ainda acredito no skate-punk de 86, naquela poesia. Mesmo sabendo que hoje em dia o mercado de skate é todo fudido, que tudo é dominado por uma indústria, ainda me emociono vendo um molequinho aprendendo a pegar impulso, ou quando vou num show como nesse último sábado, com um monte de bandas que estavam começando, e vejo a alegria da galera. Eu não quero conhecer o cara que compra o meu quadro, foda-se. Não quero nem saber pra onde vai, quem é, não quero ser amigo de colecionador de arte, tá ligado? Eu quero ser amigo dos caras que estão fazendo o que é referência pra hoje, as bandas que estão começando agora...
O Hurtmold rompeu aquela coisa do punk, começou a tocar com o [Rob] Mazurek, a fazer jazz, e hoje tá tocando com o Pharoah Sanders. É isso que me faz continuar acreditando nas coisas, saca? Ver a galera indo atrás dos sonhos e resolvendo as coisas, não criando um formato e pensando “puta, encontrei minha fórmula, vou ficar rico, vou ser o próximo Romero Britto”. Nunca cara... Quando eu percebo que estou me acomodando, é hora de partir pra próxima, tá ligado? Eu nunca consegui repetir uma fórmula, pensando “ah, vendeu, faz mais 10 nesse estilo”. Você tá louco, nem fodendo.
“Muito do que eu fazia nem era pensado, era bem instintivo mesmo. Mas hoje sinto que estou chegando ao fim desse ciclo, talvez porque vou fazer 39 anos. Eu tive essa fase, que foi muito porrada, de retratar nego enforcado, morte, armas. [Hoje] quero explorar outras partes do meu trabalho: mudar o suporte da colagem, desenvolver mais a técnica, texturas, partir pra algo menos figurativo e mais abstrato.”
E as suas filhas, o que elas acham dos teus trabalhos de arte?
Elas piram, já desenham o diabo, cruz de cabeça pra baixo (mostra um desenho da filha mais nova: um diabo com uma cruz de cabeça pra baixo na testa, ao lado do mundialmente famoso refrão do Michel Teló “Ai se eu te pego, ai, ai, se eu te pego”). (risos gerais)
Você está produzindo um filme sobre você mesmo, certo? Fala um pouco sobre isso.
Cara, eu tenho tudo arquivado, desde o começo. A partir de 2005, comecei a filmar também, deixava a câmera ligada durante horas registrando minha produção. É difícil explicar o meu trabalho para uma pessoa que não tem o repertório, não conhece as referências. A nossa geração sabe quem é um Ray Barbee, um Thomas Campbell, um Twist, sabe o que é a Earache Records. Mas o público que eu estou alcançando com a minha arte hoje já não tem esse entendimento, e acho que o doc vai ajudar nisso. Também por esse término de um ciclo, achei que era o momento ideal para soltar um material desse. Já venho decupando, organizando esse material há algum tempinho e acho que até o fim do ano o doc sai. A previsão é para novembro, que é quando eu também terei uma exposição individual na Logo, já nessa nova fase.
Dá para imaginar que caras como Winston Smith, Jamie Reid, Linder Sterling, Pettibon e Pushead devem ser grandes influências para você, desde a época dos teus primeiros zines, no final dos anos 80. Você já ligava a arte ao artista, já queria saber quem estava por trás daquelas coisas todas?
Sim, principalmente esses que tu citou. O Pusshead pelo trabalho com os Misfits, Mettalica, o Pettibon pelo Black Flag, o Winston Smith pelo Dead Kennedys, John Yates por ter feito as coisas da Allied, selo dele que era coligado com a Alternative Tentacles. E eu falo pra Mila que nunca vou usar o roxo sem associar com o amarelo, porque é a combinação que veio do Buzzcocks, tá ligado? No Brasil, eu já sabia quem eram caras como o Adherbal (mais conhecido hoje como Billy Argel). Quando saiu o shape do Thronn, antes de montar o skate eu fiquei olhando para aquela arte um dia inteiro. A capa do Ataque Sonoro, as coisas do Lobotomia... Isso ficou tão marcado na minha cabeça que mais de dez anos depois eu encontrei o Greco, baterista do Lobotomia (Argel também era guitarrista da banda) e eu falei, “cara, cadê o Adherbal?” Eu não sabia que Billy e Adherbal eram a mesma pessoa! Foi aí que fui atrás dele, e que começamos a história do Re:Board… (exposição/documentário sobre a história da skate art no Brasil).
“Foi isso que fez a parada ser original. Não rolava aquela pressão de criar pensando ‘eu tenho que vender’. Tudo era experiência. Acho que essa fase foi crucial pra formação de muita gente.”
Na época que fizemos a exposição Four of a Kind, no Espaço Soma, você foi o último a chegar para a montagem. Fiquei impressionado porque, além de trazer aquelas obras enormes, você ainda começou a fazer uma colagem monstruosa no painel da galeria, num pique de produção muito rápido, intenso...
(Risos) Cara, recentemente rolou um processo parecido na produção de cinco quadros para a SP Arte, que acontece em maio. Eu prometi que seria a última vez que trabalharia dessa forma. Depois, a primeira obra que comecei foi esta aqui (aponta para uma obra inacabada atrás dele), e na época eu estava tomando uns tarja preta, daí parei e [a arte] taí... Foi a mesma história, tava tudo inacabado, até que eu cheguei um dia e falei “preciso acabar essa porra”, nesse mesmo esquema intenso que você falou, escrevrndo um monte de coisas que eu estava sentindo na época como “covarde”, “culpa”. Eu espero que daqui pra frente role essa evolução, e que eu saia dessa zona de conforto, isso não faz parte do meu repertório. Se eu começar a achar que meu trabalho é foda, cabuloso, eu vou estagnar e eu não quero isso, então acho que é sincera essa minha busca da evolução, sem me preocupar com vendas. Por mais que me peçam, eu nunca vou repetir a porra da fórmula, eu ia me sentir uma puta se fizesse isso.
------
Saiba mais
sesper.com