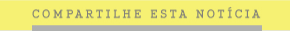
Jarbas Mariz é um camarada de sorte. Nasceu roqueiro, mas o dom do ritmo o levou a passear por onde ele bem entendesse: psicodelia, forró, baião, eletrônico, xote, post-rock, coco, indie, xaxado, ciranda e por aí vai. Paraibano prestes a completar seis décadas de vida, tem muita história pra contar. Mais do que isso: tem história que merece ser conhecida. Viveu capítulos com os maiores criadores da música popular brasileira, como a santíssima trindade Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro e João do Vale. Há vinte anos, Jarbas é parceiro das aventuras musicais de Tom Zé. É também um dos artistas mais inventivos do nosso tempo. Coisa de gente enxerida e arretada.
Você teve algumas bandas de baile e depois foi tocar com o Zé Ramalho. Conta essa história.
Pra mim, a música da Paraíba é antes e depois de Zé. Foi ele que trouxe, no começo dos 70, um show profissional, com estrutura. Era o “Atlântida, o Continente Desaparecido”. Era Zé Ramalho e os Filhos de Jacó, e eu era um dos filhos. Tocava guitarra base, percussão e fazia vocal com ele. Foi nessa época que o Zé conheceu o pessoal de Recife, e queria me levar pra lá de qualquer jeito. Ele falava: “Bicho, participei de umas gravações com esses caras pro disco do Marconi Notaro”. Quando o disco ficou pronto, ele me levou pra Recife. Foi aí que eu conheci Lula [Côrtes], Alceu [Valença], todo o pessoal… Foi nessa época que saíram os clássicos Satwa, Marconi Notaro no Sub-reino dos Metazoários e Paebirú".
Você tocou no Paebirú, né?
Eu fiz berimbau, mas nem tocava! Eu tinha ido à Bahia pra aprender a tocar. E, como eles queriam berimbau de todo jeito, acabei tocando na “Não Existe Molhado Igual ao Pranto”. Depois disso fizemos o Rosa de Sangue, do Lula, que eu toquei também, em três faixas. Mas esse disco nunca saiu aqui – eu tenho uma fita aqui que gravei lá na Rozenblit.
Isso foi antes de você lançar seu primeiro compacto.
É. Depois disso fui pra Belém visitar meu irmão. Só que sofri um acidente lá e acabei ficando mais tempo. Então resolvi procurar uma gravadora que estava de olho em artistas novos. Eu tinha uma fita de um show que tinha gravado com o Zé lá em João Pessoa, que era o “Três Aboios Diferentes”. Todas composições minhas, só a “Paragominas” eu fiz em Belém. Levei pra Erla, a gravadora de lá. O cara achou estranho, eles tinham uma pegada mais carimbó, sirimbó, samba. Mas um maestro lá convenceu o dono que era importante ter um som diferente. E o cabra acabou investindo no meu primeiro compacto.
Conta mais do Transas do Futuro.
A gente fez o disco em 78. As letras das canções tinham muito a ver com a época. Era uma linguagem que hoje em dia não tem mais validade. Mas as pessoas não têm noção, tem loucuras bem legais ali. Eu gosto de dizer que, quando é verdadeiro, me dá o direito. Por exemplo, na música “Eu Quero Jogar Cartas com a Humanidade”, em que falo “Eu traço planos com a mente, eu carrego nas costas seus discípulos. Por isso não tente me enganar, a verdade está naqueles que a sabem usar”.
E a gravação?
Era tudo ao vivo. A gente gravava a base e depois botava uma voz – às vezes a voz-guia já valia. Eram as condições da época. A gente sabe que o disco é mal gravado e tal, mas o barato está aí. Eu gosto de ouvir esse som hoje em dia. É um som verdadeiro demais. Naquela época era tudo na luta, você ensaiava até morrer… E um, dois, três, ninguém podia errar. Essa garra toda aparece nas letras também. Tem muita coisa otimista, tipo “Tudo que vem da natureza merece ser curtido”. Pode até ser ingênuo, mas é de verdade. Outra coisa que eu falo que merece ser ouvida é a “Valsa dos Cogumelos”, mas nesse caso estou falando de uma música do primeiro disco do Lula, o Satwa. O Lula me deu o disco, eu me identifiquei e coloquei nessa letra.
Lula, grande mestre que nos deixou há pouco…
Vou sentir muito a falta dele. Eu inclusive queria regravar essa música e ia pedir pro Lula, tem a cara dele. Além de ser criativo pra caralho, era um ser humano da porra. E não parava um minuto. Bicho elétrico! Aquele quadro ali, grandão, verde, é dele. Maluco pra caramba: um relógio de madeira abandonado na beira de um pântano, que de tanto tempo que ficou lá acabou brotando.
E depois de Belém?
Voltei pra João Pessoa, chamei Lula pra ser convidado especial no meu show, tem inclusive um cartaz que eu guardei. Os meninos (DJ Nuts e Craifer, da Mopho Discos) ficaram malucos quando viram isso.
Foi nessa época que você tocou com Jackson do Pandeiro?
Foi logo depois. Eu estava no Rio com Catia de França gravando, e a gente foi chamado pra fazer o Pixinguinha (projeto que promovia shows a preços acessíveis). Os convidados eram Jackson do Pandeiro e Anastasia. Tudo acabou sendo uma surpresa pra mim, porque eu estava chegando ao Rio todo matuto… Eu sou autodidata, não tinha aquela manha de altos acordes, de estudar música profundamente. Minha coisa era mais simples, mais de emoção mesmo. Aí no ensaio o Jackson olhou pra mim e falou “Ô nego! Você não vai tocar comigo?”. E eu respondi, tímido pra caramba: “Não, eu vim tocar com a Catia”. E ele, “Eu tô vendo que você é bom de rrritmo, venha tocar comigo, o Severo vai lhe passar as harrrmonias”. Ele falava muito explicado, o Jackson, bem assim com o “r” puxado. Eu fui. Comecei a pegar minha célula rítmica, peguei as harmonias com Severo e fiquei fazendo os vocais. Tocava com Catia e com ele, fazia todos os vocais e a viola base.
Você tem registro disso?
Tenho tudo documentado. Tenho muito material dessa época, Jackson, Catia, Elba, João do Vale…
Fala do João.
Ah, ele era aquela figura forte. Tomava uma cachaça boa! Chegava no teatro todo arrumado, de camisa. Começava a tomar uma, outra, ia abrindo a camisa, ficando suado... Chegava a hora do show e ele tava no ponto! Tirava o sapato, ficava com a camisa aberta e mandava brasa. Era uma figura.
Foi na década de oitenta que saiu o Bom Shankar Bolenath.
Esse disco saiu em 89. Foi a minha fase mais criativa com o Lula. A gente ficou muito amigo, ele me apresentou muito músico daqui, Roberto Lazzarini, Bocato… Esse disco é como se fosse uma versão do Satwa, com Lula no tricórdio e Lailson na viola de doze. Aqui era ele no tricórdio e eu na viola de doze, só que com a tecnologia da época.
Esse disco quer dizer “Acordemo-nos Deuses e Deusas à nossa própria divindade”. Só saiu em vinil, e é um instrumental diferente. Porque muitas vezes instrumental brasileiro tem aquela pegada jazz, um entrega pro outro solar e tal. Esse disco não. É uma viagem, a gente gravou todo mundo e depois foi mixar. O Lula era o Oriente e eu o Ocidente. A gente fez uma coisa bem diferente. Tem um baião, o “Forró pro Mundo Inteiro”, que no lugar da zabumba a gente colocou tabla. O produtor achava que estava jogando dinheiro fora. A velha história da lucidez e da loucura, ou da loucura lúcida, não sei.
E a homenagem ao Jackson?
Foi uma responsabilidade danada. Eu tive essa ideia e fui pesquisar o repertório, porque queria misturar músicas conhecidas e desconhecidas. O mais importante era não perder a célula rítmica do Jackson, o suingue dele, era um compromisso meu. Se ele fazia na introdução uma coisa simples com sanfona, a gente fazia com metais mas com sanfona também, sem perder aquela cozinha do triângulo, agogô, zabumba e pandeiro. Sempre tendo essa linha da base do violão, e mais alguns arranjos. Vários amigos participaram: Bocato, Mestre Ambrósio, Chico Cesar, Ferragutti.
Qual a diferença entre forró e baião?
Na minha concepção é o seguinte: dentro do forró tem baião, xote, xaxado, coco. Nos discos antigos, de Marinês, Jackson, Gonzagão, eles davam o ritmo da música em cada faixa. Por isso eu acredito que todos esses ritmos formam o forró. Mas muita gente confunde. Aqui em São Paulo tem mais xote que baião, o povo dança mais devagar. Vai lá no Nordeste ver essas bandas tocar! O baião é que nem aquelas bonecas de pano, que você puxa, roda pra cá e pra lá. Eu aconselho a ir ver baião de verdade, lá em Caruaru, Campina Grande ou João Pessoa, onde o couro come. Aqueles zabumbeiros, o bacalhau, que é a varinha que toca na zabumba embaixo, o contraponto. Os cabras tocam aquilo de uma forma que você fica maluco! Pega os discos da Marinês, é uma pauleira só! Forró lá é pra lascar, por isso se fala “a poeira subiu, o chinelo arrastou”. O Jackson falava: “É um baião apressado demais!”. E a quadrilha? É mais rápido ainda! Uma vez fui tocar aqui e me falaram: “Meu irmão! Aqui é o pessoal da melhor idade! Você quer matar os velhinhos?” (risos). Eu tive que tocar mais lento.
E o Luiz Gonzaga?
Conheci quando Marinês gravou uma música minha. Ela tocava triângulo com ele, com um suingue que você não acredita! A gente foi fazer uma homenagem a Luiz Gonzaga no programa de Walmor Chagas e tocamos juntos. Além da cozinha de Gonzagão, os convidados especiais eram Marlene, Ivon Curi, Marinês e Altamiro Carrilho na flauta. Só isso! E Luiz Gonzaga cantando “Asa Branca”, é claro!
Conta sobre as suas experimentações com o eletrônico.
Foi o M4J que veio com essa ideia. Os meninos da minha banda entortaram a cara, não achavam que ia dar certo. O Manoel veio aqui em casa, levou os discos de Geraldo Mouzinho e Cachimbinho, de dois emboladores de coco, gravou uns pontilhados de repentista também. Levou pro estúdio, sampleou e gravou o primeiro disco. Aí a Trama gostou da investida, e no segundo disco eles me procuraram. Gravei triângulo, pandeiro, um monte de percussão, cantei uma música inédita…. E “Forró com F”, que foi bem gravada por aí, eles cortaram no computador, ficava Fo…Ff..Ff… Engraçado foi eu aprender a cantar isso ao vivo assim, todo cortado!
Outra experimentação foi com o Tortoise.
Isso. O David Byrne juntou as duas coisas porque achava que o som do Tortoise era estranho e do Tom Zé também! (risos) A gente fez uma turnê com eles por várias cidades nos EUA. Mas foi duro, eu passei quinze dias na casa do John McEntire. Tinha que ensinar aquele samba troncho e aqueles arranjos malucos pros caras! Eu ficava com as pernas tremendo, eram oito horas por dia de ensaio. Mas eles são bem versáteis, tocam todos os instrumentos. Um sai da bateria, pega o teclado, outro pega o vibrafone, outro a percussão…
Falando em instrumento, conta sua história com eles.
Eu vim da escola de baile, como já te falei. Mas sempre toquei de palheta, desde pequeno. Não aprendi com violão de nylon, já comecei com guitarra base. Essa é minha parada. Aí, quando assumi sair dos bailes e virar Jarbas Mariz, tive que escolher um instrumento que pudesse tocar com palheta. E escolhi a viola de doze, porque não dá pra dedilhar. Até dá, mas não é minha praia. Minha praia é ritmo, e eu acabei me aperfeiçoando em cima da minha mão direita. No começo, eu tinha muita influência da bossa e da tropicália, mas a maioria das pessoas estudava música. E, como eu sou um autodidata, me safei com minha mão direita.
E se safou mesmo?
No começo eu ficava cismado, porque achava que tinha que ir além dos acordes simples, tinha que fazer aquele negócio dissonante. Aí depois eu entendi que pra fazer suingue, que era o estilo que eu gostava de fazer, esses acordes simples eram uma maravilha! Se eu fizesse acordes dissonantes jamais seria um ritmista. Sou cantor, compositor e, antes de mais nada, um ritmista, porque minha mão é percussiva.
E a sua história com o Tom Zé?
Foi justamente por conta disso que entrei na banda de Tom Zé. Eu toco percussão, cordas, meu bandolim é percussivo. Eu peguei toda minha bagagem de ritmo e coloquei nesses instrumentos pra trabalhar com o Tom Zé. E acabou dando certo. Quando cheguei aqui em São Paulo, no final da década de 80, conheci Tom Zé. Estou com ele há vinte anos. É um casamento danado! E sigo gravando meus discos em paralelo ao trabalho com ele. Este ano deve sair uma coletânea dos meus seis discos.
Tem mais novidades na área?
Eu passei pela vida desse pessoal todinho: Jackson, João do Vale, Catia, Zé, Quinteto Violado, Lula… E levei todo esse material pro rapaz da gravadora Discobertas. Ele vai lançar tudo. Eu pensei: “Vou guardar pra quem? É melhor deixar pras pessoas ouvirem.” Demorei um tempo pra entender que era assim. Meus amigos falavam que eu era doente. Eu dizia: “Rapaz, eu não sei disso, não. Tudo que acho bonito eu guardo”. Depois comecei a entender que é bom pra mim e pras pessoas que vão pesquisar um dia isso aí. Eu fico feliz que os meninos estejam começando a se identificar com esse tipo de trabalho.
Saiba mais: